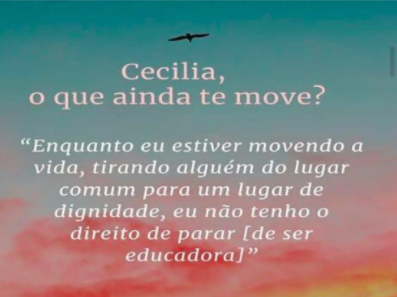Cabrália, 27 de fevereiro de 2041
No decurso da pandemia, muitas famílias se aperceberam da falência de um velho modelo educacional. Eis o que uma mãe escreveu num e-mail:
“Professor, boa madrugada! Perdoe, mas acabei de ler sua postagem no Facebook. Sou professora de Química. Sempre me incomodei com o nosso falido sistema. Mas, já há algum tempo, estou me sentindo sufocada. Ando sem motivação para continuar nesta jornada tão bela e honrosa que é este nosso ofício. Me vejo só nesta imensa multidão, que não enxerga e nem faz questão de enxergar o declínio da nossa prática e o quanto isto é desastroso para nós. Perdoe o desabafo quase de um paciente para seu terapeuta, mas é a mais triste verdade.
Estava à procura de respostas para meus anseios e encontrei alguns vídeos seus que, por alguns minutos, acenderam em mim a chama do amor a esta árdua profissão. Sem mais delongas, gostaria que me ajudasse. Eu me tornei professora por vocação, por amor ao ser humano, por acreditar que somente um povo munido de conhecimento pode mudar o rumo de sua nação. Gostaria de conhecer o projeto Âncora Como posso? De que forma eu poderia começar algo, aqui, também? Sei que pareço uma sonhadora, mas não seria real se assim não fosse. Desculpe me alongar tanto, mas (…)”.
Esta professora não sabia que a Escola do Projeto Âncora já havia sido destruída. O e-mail continuava no mesmo tom e culminava com uma informação semelhante àquela que esteve na origem do desaparecimento do Projeto Âncora: o não-cumprimento do artigo 15º da LDBEN.
Hoje, não vos maçarei com considerações de natureza, mais ou menos, teórica. Mostrar-vos-ei que, para além de perversa, a Base Nacional Curricular Comum, à semelhança da regulamentação instrucionista, era ilegal. Hoje e nas próximas cartinhas, falar-vos-ei de leis e do seu incumprimento.
No decurso dos debates, foi dito que o conteúdo da base era mera “referência” e que as escolas, no exercício da sua autonomia, dela fariam adaptações. Era bem verdade que o termo “autonomia” era referido 57 vezes na proposta de base curricular. Porém, omitia-se que, ao cabo de vinte anos, o artigo 15º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) continuava sem efeitos práticos, situação agravada pelo fato de a administração educacional não ter cumprido a meta 19 no prazo estabelecido pelo Plano Nacional de Educação (PNE). Isso mesmo: o poder público não cumpria leis que promulgava.
Gestores escolares continuavam a assumir cargos por indicação de políticos e o “dever de obediência hierárquica” negava às escolas o direito à autonomia pedagógica, administrativa e financeira. Só quem não conhecesse a realidade do chão das escolas poderia crer que nelas fossem cumpridos os artigos 12º e 13º da LDBEN. O modelo instrucionista, de que a BNCC era exemplo, imposto às escolas pela administração educacional, impedia o cumprimento de muitos outros artigos da Constituição Federal de 1988 e da LDBEN, nomeadamente, os artigos 2º, 3º, 4º, 5º, 14º, 15º, 23º, 32º.
Como “o exemplo vinha de cima”, as escolas também não cumpriam os seus projetos políticos-pedagógicos, porque esses documentos não eram políticos, nem pedagógicos. Na sua elaboração, a polis não era escutada e, em muitos casos, o PP-P era um “modelo único superiormente concebido” e imposto às escolas. A maioria dos professores não o liam, como jamais leriam a BNCC, dado que o currículo efetivamente “transmitido” era aquele que constava dos manuais didáticos. O escolanovismo e os construtivismos mal assimilados contidos nos pp-p eram contrariados pelo faz-de-conta da prática.
Por: José Pacheco