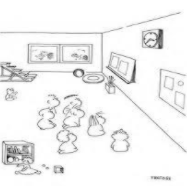Vidigal, 24 de novembro de 2041
Nos idos de setenta, fui trabalhar numa escola do Portugal profundo, chão de terra, paredes-meias com uma corte de gado. Quarenta e nove maravilhosas crianças, mãos calejadas do uso da enxada, senhoras de segredos, que eu nem sequer imaginara.
Trocamos saberes. Ensinaram-me como conduzir ovelhas e a produzir queijo. Ajudei-os a aprender os saberes de livros, que eles não tinham podido ler. Com livrinhos ofertados, fiz uma pequena biblioteca, enquanto eles me abriam páginas do livro da Natureza. Acatávamos a recomendação do Comenius de levar a escola para debaixo da árvore (ou para debaixo da mangueira, como fazia o educador Tião Rocha). E, assim, fomos “aprendendo uns com os outros, mediados pelo mundo”, até ao dia em que me pediram que lhes dissesse “de onde vinham os bebés”.
Levei-lhes dois livrinhos de uma editora católica, que abordavam o assunto em pezinhos de lã. Os meus alunos aprenderam aquilo que a ignorância havia infectado de malícia. Expliquei-lhes aquilo que os seus pais sentiam vergonha de explicar.
Eu sabia o caminho que pisava. Na bucólica paisagem, os toscos casebres abrigavam famílias fustigadas por um abandono de séculos, morava um povo submisso aos desígnios de Deus e dos “coronéis” locais. Poderia faltar o pão, mas sobravam piolhos e… preconceitos.
Nesse tempo, a ignorância era condimento de sanhas destrutivas contra tudo o que escapasse à mediocridade reinante. Meio século decorrido, no Brasil, os meios eram mais sofisticados – em meados do século XX, não havia computadores, nem fake news – mas, a manipulação da ignorância em nada diferia da de antigamente. Pseudónimos e anonimatos protegiam os que atiravam pedras e escondiam a mão. A deturpação da realidade – à mistura com uma ponta de verdade, para a mentira ser segura – produzia os mesmos nefastos efeitos.
Não me surpreendeu o fato de o povo português, num escrutínio secreto, ter elegido Salazar como “o cidadão mais ilustre da História”. A Ditadura prolongara-se por quarenta e oito tenebrosos anos. Depois, os dinheiros da Europa travestiram-na de Democracia. Nos idos de vinte, eram inúmeros os supermercados e escasseava a cidadania. Dispúnhamos de novas estradas, por onde se chegava a lugar nenhum.
As grandes escolas converteram-se em armazéns de alunos. O esforço de reflexão e mudança de alguns professores era anulado pelo usufruto de privilégios por parte de funcionários afetados por uma crónica “falta de tempo para reunir e debater o sistema”. O Estado dispunha de professores que não merecia, tão elevado era o seu sentido de profissão. Mas também contribuía significativamente para a “crise da escola”, quando dava emprego a quem não sabia fazer mais nada, ou a quem tinha tendência para o menor esforço.
Muitas das escolas estavam cativas de uma organização burocrática e atacadas de insensibilidade. Por via de um segundo emprego, ou por mera desmotivação, muitos docentes iniciavam as suas carreiras como as acabavam: a “dar aulas”, a corrigir testes, a debitar notas para uma pauta, a preencher “papelada”, a cumprir inúteis rotinas e rituais e a excluir alunos em conselhos disciplinares.
Não chegavam sequer a conceber outro modo de ser professor. Não chegavam sequer a imaginar o universo de saber e de saber-fazer a que poderiam ter acesso e que lhes teria permitido ultrapassar os limites do senso-comum pedagógico e a reprodução de práticas anacrónicas. Não chegavam a perceber que, para se fazer uma escola, não basta juntar alunos, professores, funcionários, manuais didáticos e livros de ponto.
Por: José Pacheco
 645total visits,2visits today
645total visits,2visits today