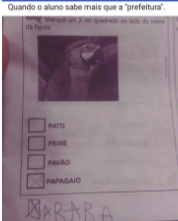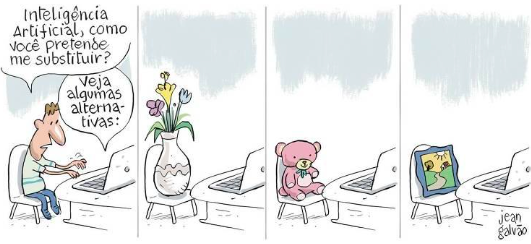Santo Aleixo, 30 de junho de 2043
Netos queridos, como já vos disse, quando decidi trocar a engenharia pela educação, eu sabia de eletrotecnia, mas não sabia que não sabia ser professor. Eu sabia dar aula (embora não soubesse por que durava 50 minutos9. Impunha (porque me impunham) o ritmo do trimestre, e do ano letivo. Aplicava testes, dava “positivas e negativas”. Classificava, sabia aprovar e reprovar. Não sabia que não sabia avaliar.
Eu sabia dar aula, à semelhança do titular de um qualquer curso, que enveredava pela profissão de professor. E dava aula da melhor maneira possível, guiado pela intuição pedagógica e pelo “quanto baste” de vingativas intenções.
Sim, vingativas. Não sei se já vos disse o porquê dessa opção.
Se não vos disse, aqui vai. Salvo “in extremis” de morrer antes dos trinta (um dia destes, vos contarei essa estória), quando me perguntavam por que quis ser professor, eu respondia que, quando decidimos ser professor, o fazemos por amor ou por vingança. Fui por vingança, para vingar a sorte daqueles que não saíram da Ilha dos Tigres, que sofreram miseráveis padecimentos e morreram sem que florescessem os seus talentos.
Certo é que não conseguia vingar-me. Eu dava aula bem dada, mas havia, sempre, alunos que não aprendiam. Mais tarde, compreendi que, se eu dava aula e eles não aprendiam, eles não aprendiam porque eu dava aula. Pois é! Mas eu só sabia dar aula. E adiava a “vingança”.
Pensei em abandonar a profissão, em voltar para a engenharia. Não poderia continuar dando aula, sabendo que não conseguiria assegurar a todos o direito à educação. Tomei consciência de que, dando aula, incorria na prática de “abandono intelectual”. Eu sei que é duro afirmá-lo. E longe de mim responsabilizar os meus colegas professores por esse indício de delituosa prática. A culpa morreria solteira…
O resto já o sabeis. Assumi um compromisso ético, me integrei em movimentos de renovação pedagógica. Operamos coerentes transições paradigmáticas, até que atinamos com algo impensável, até então. Operar ruturas (e até duplas ruturas) de nada servia. Necessário se mostrava, juntar aquilo que cada paradigma propunha, para integrar a pedagogia com a antropagogia – Religar!
A inovação tomava o lugar dos paliativos de um velho modelo educacional e a ética se libertava de discursos bem-intencionados, fertilizando novas práticas. Compreendemos que de nada valia tentar melhorar o sistema de ensino. E, já em pleno século XXI, partimos da sala de aula, para conceber um sistema de aprendizagem – os círculos e as comunidades de aprendizagem.
Revisitamos o que, nos anos oitenta, nos levara a repensar o sistema de ensinagem, aconteceu um reencontro com a obra de Agostinho da Silva.
No final do encontro de Montemor, um evento que se transformou num divisor de águas, uma jovem professora de oitenta anos de idade me interpelou:
“Quando você disse “Quando eu era professor”, eu vi Agostinho no palco, junto convosco. Até fiz uma anotação no meu caderninho de memórias. Era isso o que Agostinho dizia perto do final da sua vida. E tinha mesmo sido professor. Sabe porquê?”
Eu sabia. E a Julieta vira Agostinho no palco. Ele estava ali, entre nós, dizendo:
“Acho que o ideal é que ele [o ser humano] vá pensando, vá construindo o seu próprio sistema e, se um dia puder chegar a não construir sistema nenhum, ainda melhor. Porque os sistemas prendem gente”
Até amanhã, netos queridos! Ficai com a poesia de um sábio humilde:
“Lembrei-me agora de um título
Que, pois raro, o céu me assuma
Ser também honoris causa
De coisa alguma”
(Agostinho da Silva, Quadras Inéditas)
Por: José Pacheco