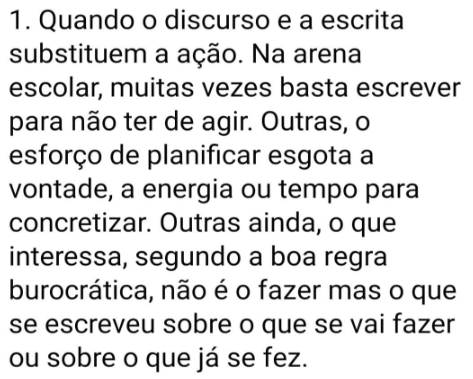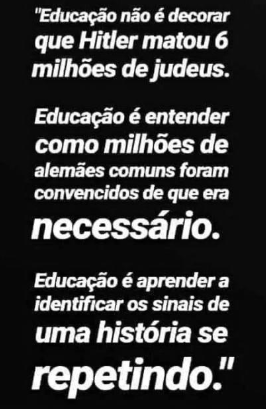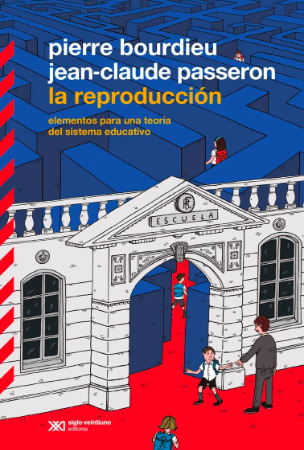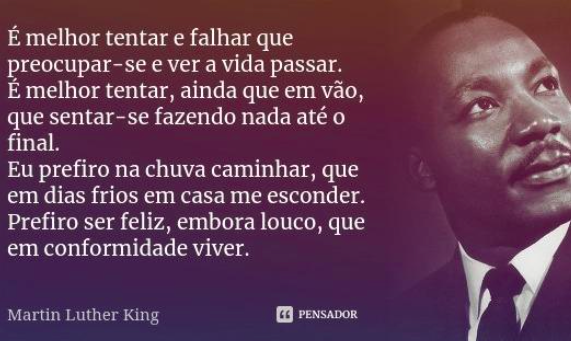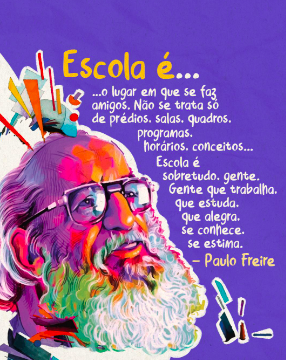Lordelo, 16 de março de 2044
No início deste século, deste modo eu tentava explicar-vos (e a quem pelo assunto se interessasse) o que era uma sala de aula e o que dentro dela se passava. Tarefa difícil de desempenhar, mas lá comecei por falar de instrumentos de ensinagem utilizados na “escola das aves”, que era, nem mais, nem menos que a Escola da Ponte, de Vila das Aves, quando o vosso avô a encontrou.
“Havia o manual (igual para todos) utilizado pela coruja para o ensino do cálculo da velocidade e da direção de voos jamais materializados. Os voos lidos no manual eram, obrigatoriamente, muito curtos e obedeciam a critérios de que as jovens aves ignoravam o fundamento.
Por sua vez, o galo ensinava o bater de asas de voos simulados, e impunha aos jovens pássaros a repetição do teórico cócórócó, que os faria conformar-se com o destino de habitar gaiolas e acatar a hierarquia das bicadas.
Copiava-se pelo manual de História a história oficial. Outro manual orientava o milhafre que, nas aulas de sobrevivência, ditava a quantidade de milho, farelo, ou couve picada, da ração diária a dar à criação.
Periodicamente, os mochos submetiam o receoso bando de aprendizes ao estranho cerimonial dos testes. As provas eram iguais para todos, num tempo igual para todos, com todos os pássaros aprendizes fechados no mesmo espaço. Se o teste fosse de voo planado, ainda que, lá fora, soprasse um vento propício ao looping, do lugar não saíam.
Pouco importava que as asas do albatroz fossem dez vezes maiores que as do estorninho. Às aves mais lestas eram cortadas as asas, para que acompanhassem o ritmo dos restantes. E as avezinhas que não conseguissem bater as asas ao compasso das outras eram remetidas para “classes especiais”.”
Alheios às nefastas consequências da manutenção da ensinagem em sala de aula, acadêmicos ociosos velavam o cadáver adiado instrucionista, enquanto três insignes mestres o denunciavam. O maior desses mestres se chamava Pedro Demo. Homem sábio, autor de farta e excelente produção científica.
Espero que ele me perdoe a ousadia de o citar, pois teve a generosidade de me enviar alguns textos solidários:
“Tendo escutado você mais de perto, nesses dias, também suas angústias, ocorreu-me fazer alguns textos. Tentam entender algumas ideias que mais chamam a atenção, mesmo assustam, mas são cruciais para a “comunidade de aprendizagem”. Admiro, entre outras coisas, sua coerência. E espero que os textos sejam úteis.
Os dados são, pois, cruéis com as aulas. Sendo aula o que mais existe e mesmo define a escola, e sendo os resultados um desastre avassalador, sua inutilidade é fragrante.
Poucas coisas são mais inúteis do que aula: roubam o tempo do estudante, desmotivam-no ostensivamente, refletem autoritarismo grotesco, deturpam o sentido da aprendizagem e do conhecimento, e representam a vanglória mais tola do professor.
Aula é o que mantém a escola presa ao passado fordista ou similar, como consta dos “Tempos Modernos” de Chaplin, repetitiva, monótona, linear, sequencial, insuportável, desumana. Não tem como objetivo cuidar da aprendizagem do estudante, mas de transmitir conteúdo que frequentemente o estudante sequer entende, como é o caso notório de matemática. É o signo também do professor ensimesmado, que mantém o sistema de ensino centrado em si mesmo, em torno de sua aula, prova e repasse, além de praticar um cognitivismo tosco, reducionista ao extremo.”
Na cartinha de amanhã (que esta já vai longa), continuarei a transcrição da bem fundamentada argumentação do Mestre Pedro.
Me despeço, com Amor.
O vosso avô José.
Por: José Pacheco