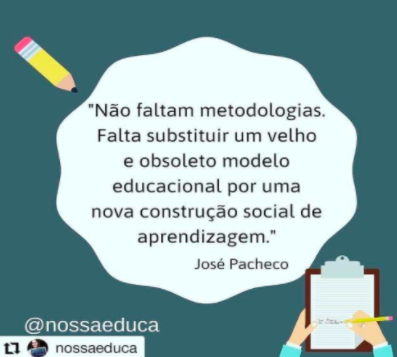Lembrança, 14 de março de 2041
Há muito, mesmo muito tempo, escrevi umas estórias, que compilei em alguns dicionários. Preocupava-me com o uso e abuso de termos como “inovação”. Transitara por lugares onde, efetivamente, acontecia inovação. E, enquanto formado em ciências da educação, havia estudado o conceito de “resistência à mudança”. Na fundamentação mais ou menos científica da minha desobediência civil pedagógica e antropogógica, a ele recorri para contestar tentativas de reformas lançadas do centro do sistema, que em nada contribuiriam para a melhoria do dito.
Esse conceito teve origem remota nos trabalhos de Kurt Lewin (1947), que o definiu recorrendo a uma metáfora da Física. Segundo ele, o indivíduo que vivia num sistema de equilíbrio buscava sempre estabilidade, a sustentação do status quo. Talvez por isso o conceito “resistência à mudança” tivesse sido adulterado, para que fossem atingidos fins menos nobres: a manutenção do status quo e os privilégios dos burocratas.
Quando os dirigentes que não “davam aula” vegetavam distantes da realidade sofrida entre as quatro paredes das salas dos que “davam aulas”, dispunham de muito tempo livre, para burocratizar e complicar a vida das escolas. Era bem verdade, nos idos de vinte! Até um titular do Ministério da Educação reconheceu que o seu Ministério complicava a vida das escolas. A declaração caiu em saco roto, pois o Ministério continuou a sua cruzada e muitos gestores tomaram-no como exemplo a imitar nas suas escolas.
Os funcionários “superiores” diriam, porventura, que controlavam presenças, organizavam horários, justificavam faltas. Mas, tanta burocracia enquistada no quotidiano das escolas apenas agia como fator de desperdício. As escolas poderiam passar muito bem sem a tralha administrativa, que infantilizava a pessoa e desresponsabilizava o profissional.
Alegavam que distribuíam ordens pelos subordinados e que faziam reuniões. Mas, o que resultava de útil dessas reuniões? Diziam que preenchiam mapas, redigiam ofícios, instauravam processos disciplinares, mas o que resultava de útil de toda essa azáfama, que se traduzisse na melhoria do trabalho dos professores, ou no aumento da qualidade das aprendizagens dos alunos? Nada!
Outra atividade inútil, entre muitas que as escolas ainda cultivavam nesse tempo, era a realização de provas, exames. Os professores que “davam aula” queixavam-se de que o número de aulas era insuficiente para “dar o programa”. Mas, muitas escolas suspendiam totalmente as aulas, muito antes do termo do ano letivo, para que fossem realizados… exames.
Segundo a lógica de um jovem professor, se lhes foi ministrado um curso para corrigir provas e lhes era pago um suplemento remuneratório pelo policiamento, isso constituía prova insofismável de que “não dar aula” elevava o estatuto profissional. Obrigados a marcar o ponto, milhares de professores passavam os dias a deambular por corredores, porque não tinham “serviço de exames distribuído” (o discurso escolar era pródigo em eufemismos), ou porque ainda não havia chegado a hora de fazer de polícia. Ainda que por efémeras horas, esses docentes conseguiam “deixar de dar aula”.
Há muitos, mesmo muitos anos atrás, conheci um professáurio, que já “não dava aula”, mas que se gabava de, no tempo em que as dava, ser considerado um “bom professor”, pelo facto de reprovar muitos alunos. Conservo até hoje a dúvida que, nesse tempo, me assaltou e um amigo brasileiro assim definiu:
“Se o bom professor é o que mais alunos reprova, o melhor médico será o que mais doentes mata?”
Por: José Pacheco
 310total visits,2visits today
310total visits,2visits today