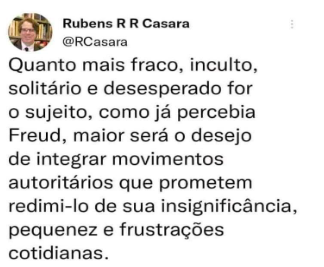Vidigal, 19 de maio de 2043
A esperança não é última a morrer, como se diz por aí. A esperança nunca morre. Pude comprová-lo na passagem pelas Sementes de Lys. A minha amiga Ana me concedeu o privilégio de conhecer pais e professores decididos a reivindicar direitos. Nesse encontro, conheci a Vanda, escritora de belos livros para a infância, como aquele que dá pelo título de “A que sabe o Amor?” e onde escreveu “vamos experimentar a vida com um novo olhar, com um novo sabor”.
Na Primavera de vinte e três, experimentávamos a vida com um novo olhar, víamos surgir projetos concebidos por educadores, que não se consideravam funcionários de um ministério e se assumiam cocriadores de comunidades.
Não contribuíam para a dissolução de relações familiares e sociais, pois o seu múnus profissional não incluía a guarda de crianças em guetos.. Consideravam a escola como espaço público aberto, vinculado à cultura, à vida, espaço de convivência, onde os jovens aprendiam a reinvenção da fraternidade. Uma escola que ajudasse os jovens a ver a sua comunidade como coisa sua, se sentissem pertença, adquirissem identidade local, pois, como diria o Nietzsche, a primeira tarefa da educação era ensinar a ver.
Consideravam a educação como pré-condição de desenvolvimento, de justiça social, de distribuição de renda, da reconstrução de um país. E o ato de educar como processo em que o conviver com o outro transformava, em todo o tempo e de maneira recíproca, como diria o Maturana.
A escola não deveria visitar a comunidade, porque ninguém visita a sua casa; mora nela. Nem precisaria de levar a escola para a comunidade, dado que se constituíra num nodo de uma rede chamada “comunidade”. As associações de moradores (e as associações de pais), os líderes locais, os representantes do poder público deveriam ser considerados, não como objetos de intervenção, ou apenas convidados a ir à escola, mas como sujeitos, autores de mudança.
Viria a acontecer uma efetiva aprendizagem e transformação social, traduzida na melhoria das condições da qualidade de vida dos membros da comunidade, quando a comunidade participasse, quer da elaboração de projetos, quer na execução das ações a desenvolver, contribuindo para a reformulação das medidas de política educativa, para uma política pública séria. E, se a escola fazia parte integrante da comunidade, faria sentido haver um espaço e tempo escolar separado de um espaço e tempo comunitário?
Havia quem considerasse uma escola ensimesmada pudesse ser uma comunidade. mas a escola de sala de aula inibia a relação comunicativa, impedia a convivencialidade.
Um jovem professor enviou-me a seguinte mensagem:
“Professor José, desde o início deste ano, sou vítima de assédio moral e abuso de poder por parte da coordenadora de estabelecimento onde fui colocado. Hoje, estavam os alunos a apresentar os projetos que fizeram, e convidei os pais para participarem no processo. A coordenadora entrou pela sala dentro e perguntou várias vezes às mães o que estavam ali a fazer… Peço ajuda. Há alguma lei que proíbe os pais de entrar na escola e fazerem parte do processo das aprendizagens dos alunos?”
Participei de um encontro de pais e professores, na escola do Vidigal, iniciativa de um diretor de nova geração e contraponto do autoritarismo de uma coordenadora. Nos anos seguintes, essa escola viria a transformar-se num polo de inovação, objeto de estudo e lugar de imersões formativas. Surpreendia a maturidade dos educadores presentes nesse encontro, a consciência de que educar era ato político, exercício de direitos humanos.
Por: José Pacheco
 368total visits,2visits today
368total visits,2visits today