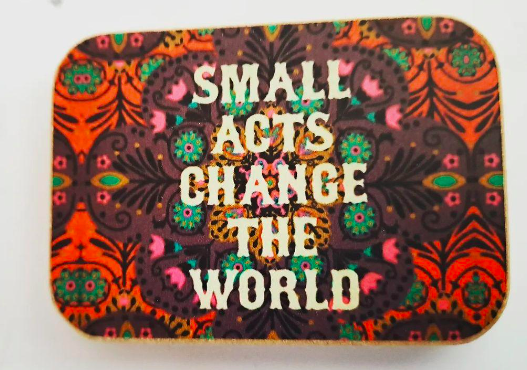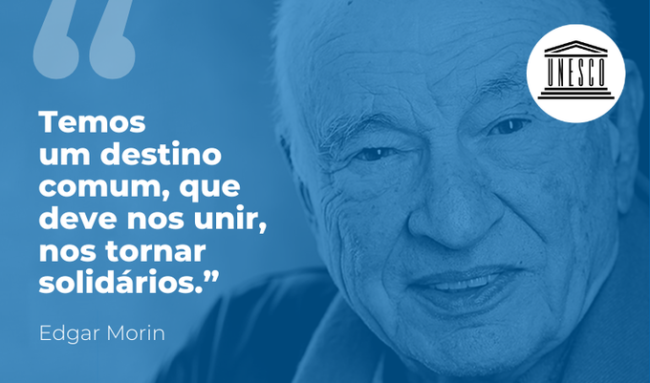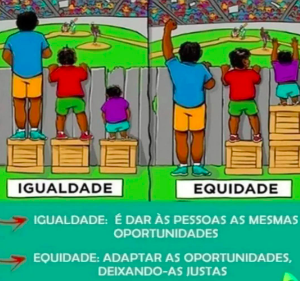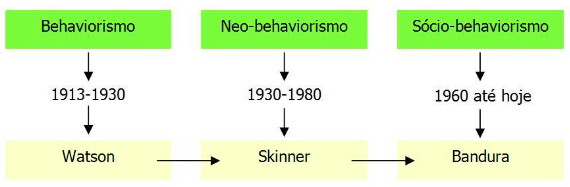Ceilândia, 24 de julho de 2043
Naquela manhã de julho, mesmo acompanhado por um moderador, senti-me sozinho no palco. No discurso de boas-vindas, o gestor do SESC havia citado Jung:
“Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana.”
Jung acrescentara a esta citação que o encontro de duas personalidades se assemelhava ao contato de duas substâncias químicas: se alguma reação ocorresse, ambos sofreriam transformação. E eu não deixava de pensar no tempo em que ainda “dava aula”.
Há muito tempo já recusava fazer planejamentos trimestrais, ou semanais, e fazia o meu plano de aula na véspera. Porém, quando, no dia seguinte, eu dava a aula planejada no dia anterior, sentia que não era eu quem ali estava. Na sala de aula o eu-ator representava um papel definido no dia anterior. Eu era um clown, que não geria a imprevisibilidade. Eu não era autêntico. Eu não estava ali, numa relação de inteireza e profundidade. Algo ou alguém estava ausente.
A Vovó Ludi era um ser humano admirável, dotado de raríssimos dons, sensível ao sofrimento dos jovens, que nela buscavam conforto e orientação. Sabia que aprendíamos na intersubjetividade, na relação com o mundo, no estabelecimento de vínculos cognitivos, mas também emocionais e afetivos. Que aprendíamos no re-ligare da família com a sociedade e a escola. E que, nos primeiros mil dias das nossas vidas, fazíamos as aprendizagens fundamentais para a restante vida.
A presença próxima, física (não virtual) de parentes significativos, acaso os progenitores falecessem, melhorava as taxas de sobrevivência de uma criança e a sua saúde física e mental. E vários estudos dos idos de vinte concluíam que uma criança tinha mais probabilidade de crescer feliz, se acompanhada pelas avós.
Por que se separava avô e neto de tenra idade? No cuidar dos netos, os avós transmitiam ensinamentos, desde aprender a caminhar até ao contar estórias. E, se a comunicação emocional intergeracional se constituía em pilar básico de aprendizagem dos netos. a Vovó Ludi tinha mais do que motivos de preocupação.
Uma desumana organização social do trabalho afastava os pais do convívio com os filhos. Crianças de tenra idade eram “encaixotadas” em creches, os avós sofriam entre as quatro paredes de um asilo. Ciente das nefastas consequências de tais práticas, a Vovó Ludi abdicou de um emprego a horas certas e investiu todo o seu tempo em jornadas de humanização, na prática da ética do cuidar.
“Cuida-se do que se trabalha e trabalha-se o que se cuida”, como diria o Erich Fromm. E esse “cuidar” dos outros, ajudando-os a refazerem-se, pressupunha uma responsabilidade voluntária na defesa do respeito por valores e princípios.
A Vovó Ludi cuidou da sua Analu, mas também criou “fluxos de cuidado” em submundos onde “algumas vidas valem menos que outras vidas”. Com ela, participei na reinvenção do saber cuidar, para fazer face às adversidades de caóticos cenários sociais, nos encontros com modos de viver no cotidiano da comunidade-favela, frente a inúmeras violações de fundamentais direitos humanos”.
A Adélia Prado dizia que a memória era contrária ao tempo:
“Enquanto o tempo leva a vida embora como vento, crianças têm o tempo a seu favor. E a memória ainda é muito recente. Ignoram o quanto a infância é impregnada de eternidade.
Ninguém melhor que uma Vovó Ludi para fazer lembrar que “há que se cuidar do broto, para que a vida nos dê flor”. Amorosamente, essa vovó interpelava um mundo contaminado por uma ética individualista, que nos impedia de cuidar dos futuros cuidadores.
Por: José Pacheco