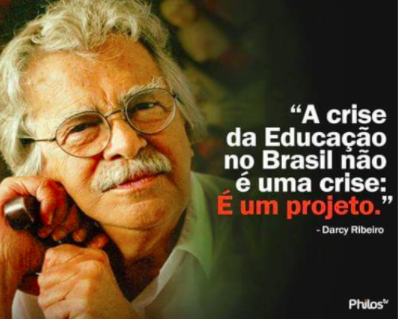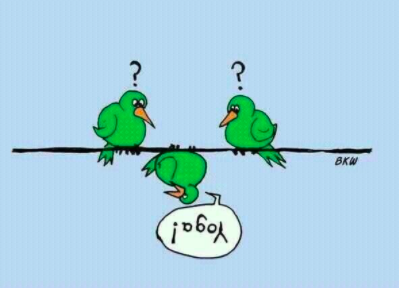Uberlândia, 29 de março de 2041
Enfrentava o calor tórrido de quartos de “hotel” do Brasil profundo, encarava com estoicismo noites mal dormidas, os ataques dos pernilongos, suportava crónicos atrasos, suportava tudo, exceto discurso de político demagogo.
Naquela manhã, a palestra estava marcada para começar às oito horas. Após o hino, discursou o deputado, discursaram secretários, durante mais de uma hora de promessas de obras feitas e de outras por fazer.
Já passava das nove, quando tomei a palavra. Perguntei o que queriam saber. Ninguém perguntou. Pedi um tópico para debate. Solícita, uma secretária de educação lamentou que, tendo investido tanto na formação dos professores, o Ideb do município não tivesse melhorado. Professores fizeram eco com a secretária. E não tardaram as perguntas sobre as causas do descalabro da educação:
“Só conseguimos atingir o Ideb 4. Por quê?”
“O que avalia o Ideb?” – questionei – “Esse “d” não é de “desenvolvimento”, é de decoreba.”
Observei desconforto no auditório. Apercebi-me do insucesso da ironia. Tentei explicar que as causas do fraco Ideb eram múltiplas e complexas. Mas a secretária insistiu:
“Professor, faça, ao menos, um diagnóstico sumário”.
Acedi ao pedido e, “sumariamente”, apontei algumas das causas. Após cada afirmação, era evidente o aumento do desconforto no auditório.
Falei da manutenção de uma alfabetização quase toda pautada num único “método”, o qual, sendo um entre muitos modos de ensinar a ler, era hegemônico e, “sumariamente”, causa de analfabetismo.
Falei da falsidade ideológica de projetos político-pedagógicos, que, na prática, não eram uma coisa nem outra. Expliquei que nenhuma atitude em educação poderia ser considerada ideológica e politicamente neutra, pois muitas práticas escolares eram, “sumariamente”, fonte de insucesso.
Abordei as inúteis estratégias utilizadas para combater a indisciplina: mais câmeras de vigilância, mais catracas, mais expulsões de alunos. E designei esses paliativos – que, não agindo nas causas, perenizavam as consequências – como instrumentos de exclusão.
Citei uma pesquisa que nos dizia que 90% dos diretores de escola gastavam mais tempo a tratar da merenda escolar do que em assuntos de natureza pedagógica. Apontei o prejuízo decorrente de decisões de natureza administrativa e burocrática e a agravante de se subsidiar práticas desprovidas de fundamentação científica.
“Sumariamente”, enunciei os graves efeitos do predomínio de uma cultura assente no individualismo, na competição desenfreada, na ausência de trabalho em equipe. Referi a ausência de rigor na avaliação.
Descrevi os erros de um modelo de formação, que faculdades alimentavam e secretarias patrocinavam, bem como os nulos efeitos de inúteis consultorias, que prometiam qualidades totais.
Acrescentei que o EJA e as classes de reforço eram sucedâneos de um obsoleto modelo de ensino com ênfase num frontal anônimo (a aula), que poderia ser permutado por situações de frontalidade fundamentada. E que admitir que uma parcela dos jovens escolarizados pudesse não aprender (“Ideb 4”) era indício de crime de abandono intelectual.
Finda a exposição, repeti a pergunta inicial:
“Que quereis saber?”
O silêncio prolongou-se por longos e penosos segundos. Até que uma professora me atirou a pergunta que mais temo:
“Mas, afinal, como é que o senhor vê a educação do Brasil?”
Ironicamente, respondi:
“Vejo-a com olhos de estrábico, cara colega”.
“Sumariamente”, por aí se quedou a discussão. E nunca mais recebi convites para palestrar naquela cidade.
Por: José Pacheco