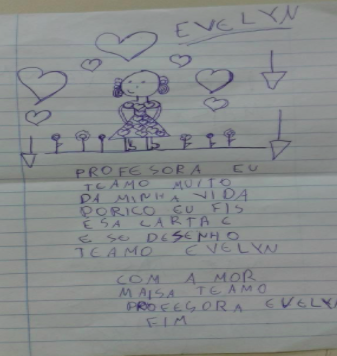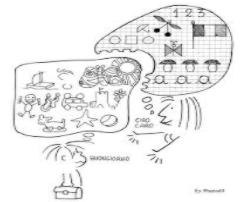Portela de Unhais, 8 de novembro de 2041
A Berta era a encarnação do pessimismo. E, naquele dia, o seu semblante carregado não dava lugar a quaisquer dúvidas, edstava possuída por uma melancolia a condizer com a manhã chuvosa, ventosa, fria, muito fria.
Acerquei-me dela com o cuidado que a situação requeria:
“Bom dia, Berta!”
“Bom dia?! O que é que o dia de hoje tem de bom?” – retorquiu.
Mas o seu desprazer cedeu lugar a um sorriso, quando repliquei:
“Berta, de que te queixas? Este é o melhor dia que vais ter hoje.”
Deambulava pelo Brasil das escolas habitadas por professores, que recebiam salários indignos e lidavam com escassos recursos. Escutava as suas queixas:
“Cada dia passado nesta escola é um inferno.”
Adoptavam a sentença do Sartre, que nos dizia serem os outros o nosso inferno:
“São mesmo os outros que nos fazem da vida um inferno. Só porque não cruzamos os braços, só por tentarmos fazer o nosso melhor, a maioria dos nossos colegas critica-nos. Na nossa escola, somos só três a remar contra a maré.”
“Pois ficai sabendo que sois a maioria” – contestei – “Os restantes estão mortos. Ainda que o não saibam.”
Cortella falava-nos da resiliência necessária, da capacidade de atravessar as perturbações quotidianas sem resvalar para o desespero. Sabíamos ser alto o preço da transformação. Assumir ser diferente acarretava incompreensão, desconforto cognitivo e afetivo. Mas, “se nos faltar o vento, façamo-nos remadores”, como alguém, também, dissera.
“Você é o professor Pacheco, não é?” – Eu ia responder à maneira do Borges: “Tem dias….” Mas, reparei na face ansiosa da professora e não arrisquei a chalaça. Disse ser o próprio. De imediato, veio a lamúria:
“Estou no momento um tanto desanimada. Em minha escola fizemos um projeto muito bonito e apresentamos à secretaria de educação. Porém, ele não foi aprovado, com as mesmas desculpas de sempre: espaço físico, necessidade de contratar pessoas etc. Até mesmo dentro da própria escola parece que se criaram dois grupos, um querendo mudanças, querendo fazer diferente, outro expressando sempre estar com medo! E eu me pergunto: medo de quê?”
Como diria o Mia Couto, “os caminhos servem para sermos parentes do futuro”. E, quase sempre, os caminhos eram pedregosos, cortados por abismos e tocaias. Mas pelo sonho é que seguíamos.
Sonho não era sinónimo de devaneio. Como nos disse o professor Gedeão, “sempre que um homem sonha, o mundo pula e avança como bola colorida entre as mãos de uma criança”. Se era pelas crianças e com elas que realizávamos utopias e lográvamos transcendermo-nos, soubéssemos aceitar o reverso, os sucedâneos da humana miséria.
Àqueles que eram parte do lado saudável da educação do Brasil, eu confidenciava que existia uma espécie de fraternidade de que faziam parte, ainda que não soubessem (e já eram muitos!). Porém…
“Professor, foi você quem disse que onde não existir uma pessoa não será possível colocar um profissional. Me corrija se estiver enganada. Uma pessoa inserida em um contexto profissional, onde o comprometimento em formar a inteireza do ser não seja considerado, onde a solidão de uma classe seja sua companheira diária, como pode não se desfazer enquanto pessoa? Hoje, por exemplo, pressinto que o meu dia será bem cinzento para a minha pessoa.”
“Este é o melhor dia que vamos ter hoje” – respondi.
Aprendíamos com Foucault a tornar visíveis as forças que impediam a mudança, a desocultar a violência visível (e a não-visível). Lamentar-se, ou vitimizar-se, nada acrescentaria, ou resolveria. Tínhamos, numa mão, as interrogações. Na outra, as possibilidades.
Por: José Pacheco