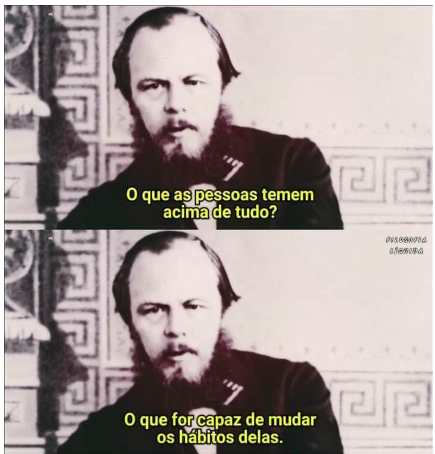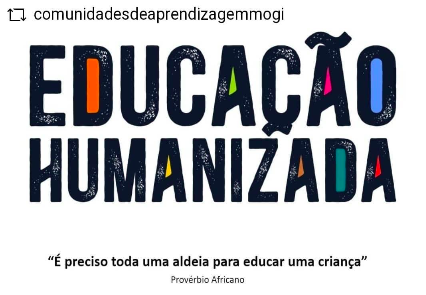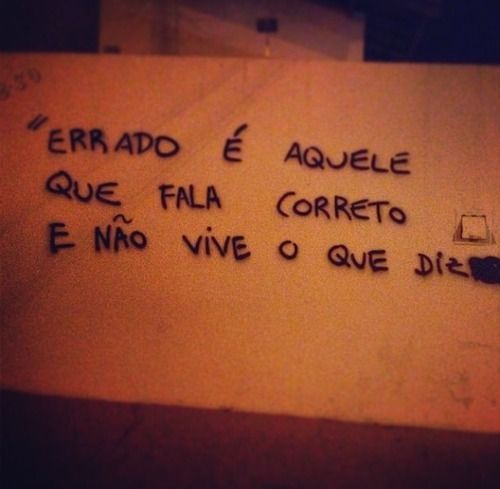Arruda dos Vinhos, 18 de maio de 2042
Quando os professores se transmutaram em tutores, quando ficaram mais atentos a si e ao próximo, detectaram dramas e medos até então ocultos. E, no afago sereno das palavras, devolveram aos pequenos seres a confiança perdida.
Quanto tempo se gastaria nesse processo de transformação? Todo o tempo do mundo. Porque eram os gestos simples de todos os dias os que restituíam aos dias que despontavam e cessavam o suave mistério da vida sem tempo calculado.
Era durável somente o que fazia sentido que se renovasse em transitórios dias. Porque, quando uma certeza tombava na arca das inutilidades, novas doutrinas, tão perecíveis como as perecidas, ressurgiam.
Como se processava essa reelaboração cultural? A resposta era simples: errando. Errar, aceitar o erro (o nosso e o dos outros) era o caminho para uma possível redenção da Escola. Errar no duplo sentido da palavra: quer se tratasse de vaguear por caminhos incertos, quer significasse o desacertar, que ficasse a intenção e o reconhecimento de que “errare humanum est”.
Havia quem pensasse que não errava. Velhos de qualquer idade deixavam-se possuir pelo medo de pensar e, sobretudo, de sentir. Consumiam o parco tempo de passagem a repetir o que outros velhos de qualquer idade pensaram, crendo serem suas as ideias, sem saber que as ideias são de todos e de ninguém.
Eram velhos mesmo velhos, não percebiam que, quando lhes ocorria um mesmo pensamento, ele já não era o mesmo que pensaram. Quando voltavam a pensar, já era outro que pensava. Como o pássaro que regressava de um breve voo já não era o mesmo pássaro que partira.
As ideias velhas envelhecem, tal como os homens. Outras geram novas ideias. Os novos (de qualquer idade) são novos porque são animados por novas ideias, das que já não nos pertencem (se alguma vez nos pertenceram) e daquelas que nem sequer chegaremos a pensar.
Por essa razão, os novos de todas as idades sabem sempre mais que os mais velhos. É exemplar a história do miúdo que pergunta ao pai se sempre é verdade que os pais sabem mais que os filhos.
“Claro!” – respondeu o pai, prontamente – “Poderia lá ser de outra maneira! Os pais sabem sempre mais que os seus filhos”.
O pimpolho não se deu por satisfeito e rematou:
“Então, pai, quem inventou a máquina a vapor? Foi o Watson, ou foi o pai do Watson?”
Quando se acreditava estar acabada a monda dos sofrimentos, surgia novo motivo de preocupação. O professor viu duas meninas, uma de cabeça pousada no ombro da outra, a outra passando a sua mão no rosto da companheira. Viu lágrimas no rosto desta.
Aproximou-se. Seria, certamente, mais um arrufo de namoradinho, ou zanga de amigas…
“Então, o que se passa?”
“Ó professor, ela disse-me que, ontem, o pai dela se zangou com a mãe, e que dormiu no sofá da sala. Está muito triste e diz que não quer voltar para casa”. – “Deixa lá, pequena!” – disse o professor, para aligeirar, ao aperceber-se de que a aluna já tinha interiorizado um sentimento de culpa – “Quando chegares a casa, vais ver que os teus pais já estão de bem um com o outro! Os adultos são assim, miúda! Não te preocupes! Não fiques triste!
Esperava resposta da chorosa, mas quem lhe respondeu foi a que não chorava: “É, professor, eu também já lhe tinha dito que não vale a pena chorar. Os meus pais já não se falam, nem dormem juntos há dois anos, mas que eu já não me importo com isso. Quero lá saber!”
O professor ficou em confusão, sem saber se deveria condoer-se da menina chorosa, ou abraçar aquela que lhe respondera. Dizia-se, nesse tempo, que um homem não chorava. Mas, esse “incidente crítico” originou uma copiosa exceção à regra.
Por: José Pacheco