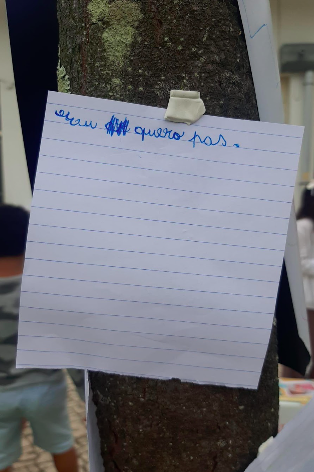Maricá, 2 de setembro de 2042
O prometido é devido. Eis-me aqui a explicar como uma aprendizagem remota me permitiu escapar da fagocitose do inovador. Foi na Ilha dos Tigres dos anos cinquenta que aprendi a gramática da sobrevivência. Talvez não vos recordeis, mas passeamos por lá, quando ainda ereis crianças.
“Avô, olha! Olha!” – Estendíeis os braços, para alcançar as gaivotas que voavam por perto. Os vossos olhos encheram-se de gaivotas. Os meus viram, por instantes, o cadáver do João rodeado de gaivotas. Faria dezoito anos no dia em que escolheu o rio para partir sem barco e sem regresso. As mesmas gaivotas que, fugindo a um mar revolto de Inverno, pousavam nos vagões do carvão, perto da escola onde o Mestre Agostinho aprendera as primeiras letras.
Como o avô tivera tempo de as observar! Em manhãs gélidas, expostas ao vento cortante de dezembro, as crianças de há noventa anos esperavam horas a fio, nas filas de receber duas batatas raquíticas e um rabinho de bacalhau, o “bodo de Natal dos pobres”. Eram as mesmas crianças que disputavam com as gaivotas os restos de sável que as peixeiras abandonavam no cais.
Nesse tempo, a fome não matava apenas a infância da Etiópia, nem entrava em casa sob a forma de notícia de televisão. Não havia televisão. A fome era uma convidada que se impunha na mesa de muitas crianças da beira-rio.
O olhar da criança que fui toldou-se de uma névoa cristalina, que confundi com a que vinha descendo sobre as margens. Os vossos olhos estavam prenhes da luz que vinha do rio. Não era apenas o olhar, mas todo o vosso corpo que estava envolvido na contemplação dos reflexos nas águas.
Sem que tivéssemos dado por isso, os candeeiros já tremeluziam. Deixámo-nos ficar por ali. E nem demos pelo anoitecer. Empreendemos o regresso, passando em frente à antiga escola. Desta vez, não fostes vós quem perguntou; fui eu:
“Quereis saber o que foi esta casa, antigamente?”
Enquanto vos falava do meu tempo de escola, via-me no Portugal cinzento de há noventa anos. Havia quem quisesse o povo analfabeto, alegando que aprender a ler era um ato subversivo. Os miúdos ranhosos, os “selvagens da beira-rio”, como lhe chamavam, eram um estorvo. Entregavam-lhes uma caneta de aparo, para molhar no tinteiro e fazer cópias, ditados. Davam-lhes uma lousa e uma pena, para copiar tabuadas, fazer contas, problemas. Davam-lhes reguadas nas mãos.
Quando soava a sineta, alheios aos avisos, imprecações e insultos do mestre-escola, partíamos para o cais da Ribeira, onde a vida nos esperava para ser aprendida. Ao nascer, perdíamos o aconchego e proteção do útero materno, mas o murmúrio das águas envolvia-nos numa nostalgia de um quase líquido amniótico, que lavava as feridas recebidas na luta pela sobrevivência.
Era curto o tempo de ser criança. Há muitos, muitos anos, deixei a seita dos Tigres da Vitória, desertei dos renhidos combates com os Índios da Cordoaria, deixei dezenas de amigos junto ao rio da minha juventude. E fui vida afora.
Enquanto caminhávamos, vos deleitáveis em descobertas e eu me afogava em reminiscências lúgubres. Imagino que reagísseis com um sorriso às descrições do quotidiano das crianças de há quase um século, mas não me sobrou coragem para vos contar estórias de meninos a quem a vida cedo roubou os sonhos. No tempo em que o vosso avô foi criança, sublimava-se a fealdade no cadinho de uma fantasia que reinventava os dias.
O Manoel dizia que “tudo aquilo que não é inventado é mentira”. E as crianças da minha geração inventavam, tudo faziam acontecer nas margens da vida comum, nas margens do rio. No cais da Ribeira, tudo era possível.
Por: José Pacheco