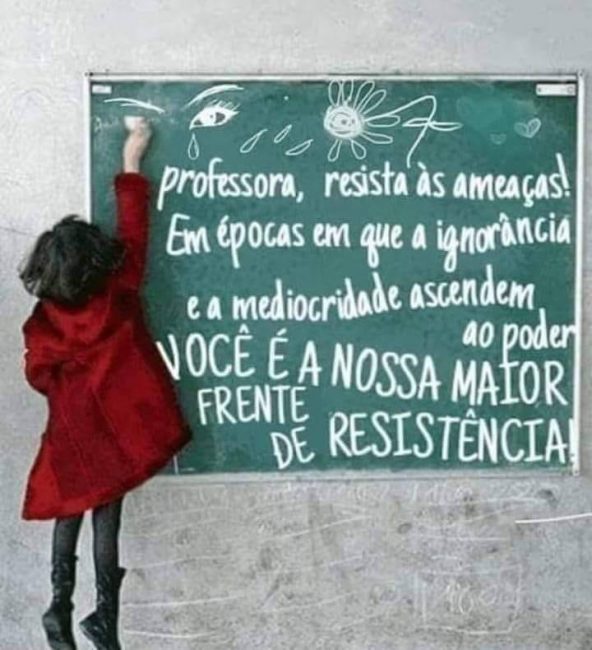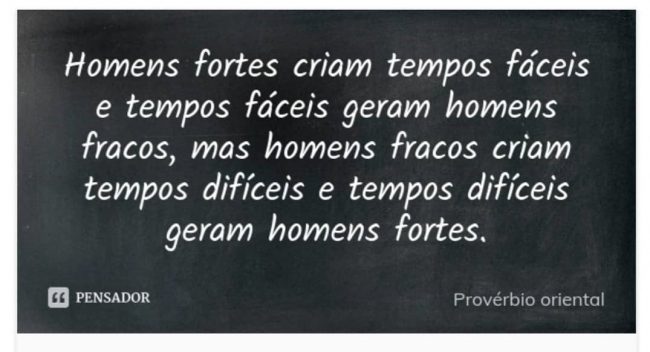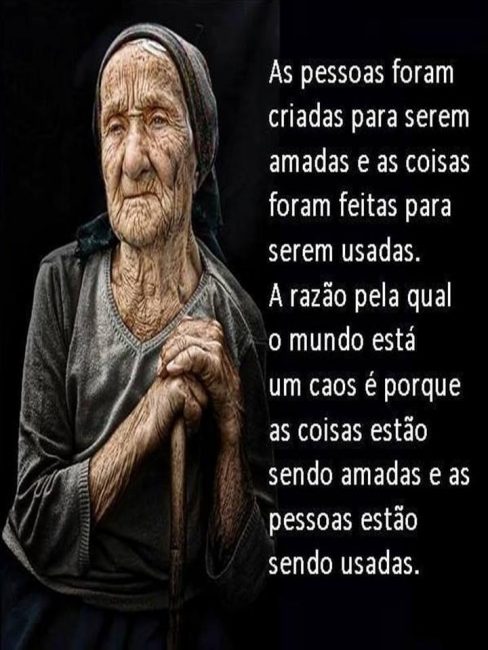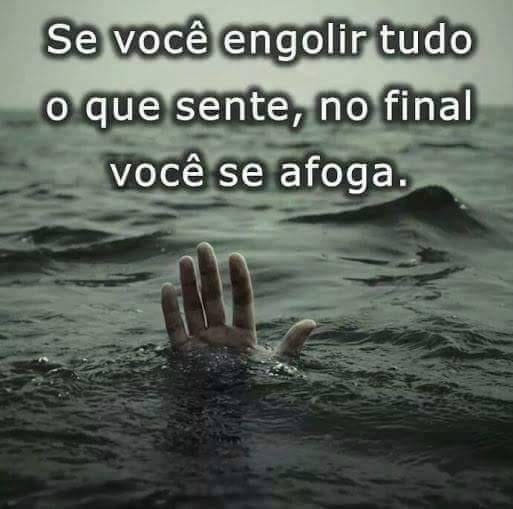São Mateus do Maranhão, 28 de agosto de 2040
No final de agosto de há vinte anos, a Organização Mundial de Saúde insistia na recomendação do distanciamento social, como medida mais eficaz para controlar a disseminação do coronavírus. Mas, políticos circulavam sem máscara, dando exemplo de irresponsabilidade. A administração educacional insistia no “regresso às aulas”, quando se sabia que, entre crianças e adolescentes, dois em cada três infectados pela Covid-19 eram assintomáticos e fator de risco de contágio de professores e… avós.
O egoísmo dos políticos e a irresponsabilidade dos administrativos tinham sido incutidos pela educação familiar, social e escolar. O adestramento num “currículo oculto” os fizera assim. Imersos numa cultura feita de clausura e resignação, “tias e tios” reproduziam um modelo escolar inspirado em instituições reverenciadas no século XIX.
Queridos netos, sei que será difícil explicar aos filhos dos filhos dos nossos filhos, nascidos na luminosa década de trinta, a turbulência social de tempos sombrios. Tentarei fazê-lo, nas próxima cartinhas, falando-lhes de causas longínquas das violèncias sofridas pela humanidade do início deste século.
A Escola da Modernidade nasceu nos estados-nação europeus, que se afirmavam entre os séculos XVIII e XIX. Teve origem na Prússia Militar, na Inglaterra das usinas de produção em série da Primeira Revolução Industrial e na França das casernas e conventos. Nasceu enclausurada em “celas de aula”, de janelas estreitas e abertas bem acima de onde alcançava o olhar dos alunos.
Dentro delas, sob a designação de “tias”, as professoras agiam como monjas de clausura e os “diretores tios”, como madres superioras.
Freire escreveu um livro com o sugestivo título de “Professora sim, tia não: cartas a quem ousa ensinar”. O insigne mestre convidava-nos a refletir: A professora pode ter sobrinhos e, por isso, é tia, da mesma forma que qualquer tia pode ensinar, pode ser professora, por isso, trabalhar com alunos. Isto não significa, porém, que a tarefa de ensinar transforme a professora em tia de seus alunos, da mesma forma como uma tia qualquer não se converte em professora de seus sobrinhos só por ser tia deles. Ensinar é profissão (…) enquanto ser tia é viver uma relação de parentesco. Ser professora implica assumir uma profissão, enquanto não se é tia por profissão. Se pode ser tio ou tia geograficamente ou afetivamente distante dos sobrinhos, mas não se pode ser autenticamente professora, mesmo num trabalho a longa distância, “longe” dos alunos”.
No tempo da ditadura de Salazar, as professoras aspirantes ao matrimônio eram obrigadas a pedir aos seus superiores hierárquicos autorização para casar-se. Deveriam provar que o candidato a marido possuía rendimentos suficientes para “manter a esposa”. Acaso o candidato não reunisse essa condição, ela teria de procurar novo namorado, ou ficar para… tia. E, se não estou errado, a Etologia explicava a origem do termo “tia”: a macaca que não poderia ter filhos, porque se encarregava de cuidar dos filhos dos macacos que morressem. A pretexto de os pais precisarem de “ir trabalhar”, a infância era confiada em “celas de aula”, vigiadas e punidas por “tios e tias”.
A escola das “tias” encerrou a infância e a juventude dentro de “celas de aula”. Por isso, quando mini ditadores ameaçavam com a “reprovação por faltas” – como referi na cartinha anterior – partiam do princípio de que a escola era um prédio com salas de aula, uma indisfarçável clausura.
Urgia desclausurar a escola. Isso fizemos, na década de vinte.
Por: José Pacheco