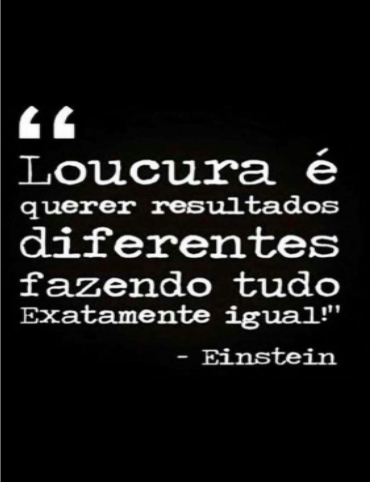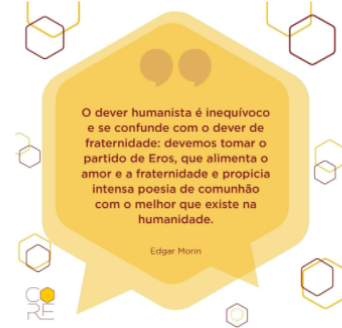Sorocaba, 24 de janeiro de 2042
No último domingo de janeiro de há vinte anos, Portugal foi a votos. O povo português iria escolher um novo governo. Lógico seria que o povo se esclarecesse, analisasse as propostas dos partidos, interpelasse os candidatos e escutasse os debates transmitidos pela televisão. Mas, não encontrei um só eleitor que tivesse lido as plataformas eleitorais dos partidos. Havê-los-ia, certamente, mas não os encontrei.
Quanto aos debates, não sei se poderia conferir-lhes esse nome. Com raras exceções, as discussões eram rasas e, em alguns momentos, exercícios demagógicos.
A Educação não foi assunto frequente nesses debates. Naquele que pôs frente a frente os dois principais partidos, não houve uma única palavra sobre educação, o motor da evolução pessoal, social e económica, “base de uma sociedade democrática”, como alguém a definiu.
Viciado em Educação, restou-me ler o que constava dos programas partidários sobre esse tópico. Um político que, por ironia do destino, era meu xará (acaso não saibais, xará era quem tinha nome idêntico; no sul do Brasil e em Trás-os-Montes, era sinônimo de “tocaio”, de homônimo) assim se pronunciou:
“A educação nos Açores não está morta, mas está ferida”.
A Secretaria Regional da Educação estava ouvindo os partidos políticos, com o objetivo de estabelecer uma “Estratégia da Educação para a Década”, quando escutou da boca do político essa infausta notícia.
Que a educação estava morta já nós sabíamos. Aliás, o cadáver fedia, já há muito tempo, mas eu nunca ouvira um político comentando o desditoso “ferimento”. José Pacheco afirmou que o seu partido era um grande defensor da necessidade de existir uma estratégia a longo prazo para a educação:
“Por diversas vezes tenho dito que a educação é um dos pilares da sociedade, e e não está bem. Não está morta, mas está ferida e temos que curar as feridas e reerguer a educação, para podermos ter pessoas bem formadas a todos os níveis e em todas as áreas”.
Pacheco foi mesmo mais longe, defendendo que um plano de ressuscitação deveria ser desenhado para 50 anos. Justificou:
“O ensino tem que ir ao encontro das pessoas, tem que os motivar e cativar. A escola tem que ser vista como uma boa comunidade onde todos estão incluídos. Defendemos a abertura e integração dos agentes culturais e sociais nas escolas, prestando um serviço de qualidade a toda a comunidade educativa como sejam os alunos, os professores, funcionários e até aos pais e encarregados de educação (…) está aqui em causa a formação e educação da nossa sociedade”.
Fiquei encantado com o pronunciamento do político. E desencantado com aquilo que li nos programas dos partidos.
Para “tornar menos desiguais as condições de acesso e de sucesso na escola”, propunha-se a “consolidação dos apoios tutoriais”, a “reabilitação das residências escolares, “instituindo a gratuitidade da sua utilização durante a escolaridade obrigatória”. Apostava-se na “escolha dos melhores” para lecionar nas escolas públicas e “planeamento da rede escolar com periodicidade trienal”, a “atribuição às escolas da responsabilidade sobre o número de alunos por turma e a sua distribuição”. Desejava-se “libertar o ensino de cargas ideológicas, criar o “cheque-ensino e dar a todos os alunos e famílias, liberdade de escolha da escola do ensino básico e secundário”, tornar a disciplina de Cidadania opcional, um “combate à indisciplina”, e a “defesa intransigente dos exames”.
Nada de novo. Mas, para além desse pot-pourri de ideias feitas, novas ideias surgiram. Disso vos falarei, amanhã.
Por: José Pacheco