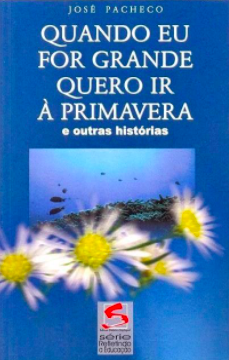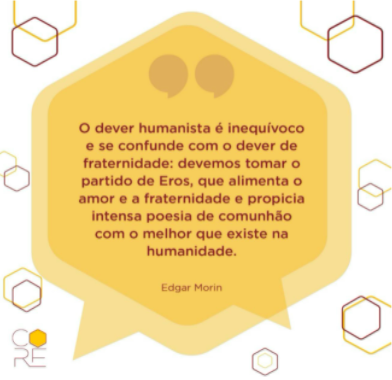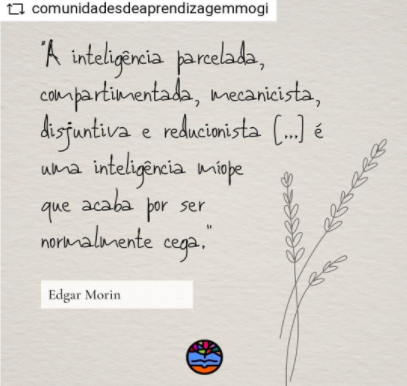Serzedelo, 12 de janeiro de 2042
Aqui concluo a estória do Bino. Devereis estar lembrados da visita da senhora “bem vestida, bem cheirosa e aprumada”. Foi ela quem roubou o Bino à avó Zefa e o levou para bem longe.
Sozinha, a avó Zefa não resistiu. Minada pelo álcool e pelo desgosto, se deixou morrer. Sem pastor, o que restava do rebanho foi arrematado pelo Luís Vendeiro. O Malhado foi servir outros senhores e o Bino transformou-se num degredado de fundo de sala de aula.
No dizer da mestra, “o moço era coisa ruim e insubmissa e nem com porrada lá ia”. Entremeava sessões de palmatoada com fugas, invariavelmente, interrompidas pelas frequentes intervenções da “senhora bem cheirosa”. Acabou internado numa instituição da cidade grande. E, se a guarda conseguia surpreendê-lo nos montes, que ele tão bem conhecia, mais facilmente os agentes da autoridade o capturavam na cidade em que se perdia, em tantos lugares de se ocultar.
O Bino peregrinou por várias escolas, até chegar à Ponte. Com dez anos feitos, era transferido para uma escola de “última oportunidade”. À semelhança de muitos outros casos de “insucesso” que a essa escola aportaram, o “Bino Bouças” vinha recomendado por psicólogos e acompanhado por um grosso relatório de pedopsiquiatria.
Apesar dos dez anos feitos, o Bino aparentava não ter mais de seis ou sete. Marcado pelo raquitismo, baixo, franzino, atarracado, parecendo não ter pescoço (como diziam alguns dos seus companheiros), juntou-se aos pequenos que vinham à escola pela primeira vez. Caminhava bamboleando-se, olhando de soslaio para tudo e para todos. A certa altura, um professor pensou que aquele miúdo de aparência frágil estava em apertos e à procura de uma casa de banho. Aproximou-se e, com extrema delicadeza, inquiriu:
“Precisas de alguma coisa, meu menino?”
A resposta, numa voz grossa e zangada, deixou o professor estupefacto:
“Ó chefe, estou à rasca. Onde é que se mija?”
Nos primeiros dias passados naquele novo e estranho mundo de aprender, ainda que o não soubesse, o Bino enfatizava o sentido lúdico da escola – o termo schola tem o significado etimológico de ócio… – embora fosse notado na hora do recreio pelo exagero na distribuição de pontapés e cuspo.
O seu reportório de insultos era vasto. O impropério aplicado a preceito, na ponta da língua e da caneta, era uma das suas competências mais notadas, ainda que não constasse do currículo formal. Mas essa competência foi abalada numa assembleia em que se provou que os “palavrões” usados pelo Bino não constavam do dicionário. E, se não constavam, não existiam, pelo que a Assembleia deliberou que o Bino teria de repensar o seu discurso e refazer o repertório.
O Bino esmerou-se. Passou por um processo de profunda reelaboração cultural e amiúde recorria à sinonímia, para gáudio dos companheiros e satisfação dos professores.
Foi sinuoso o processo de transformação daquele jovem e pleno de contradições. Para que se perceba o trajeto de reparação dos danos por que o Bino passou naquela escola, transcrevo, a título de exemplo e entre muitos que poderia citar, um depoimento deixado pelo Bino Bouças na folha afixada no mural do “Acho Mal”:
“Eu acho mal que os meninos vão à casa de banho defecar, que façam as necessidades e depois deixem o vaso todo cagado”.
Era uma vez… um jovem a que, por ser baixo e atarracado, apelidaram de “Bino Sem Pescoço”. Por via de desejo de suave vingança, ele não cuidava do vernáculo. Hoje, é um homem extraordinário, um ser humano dos mais sensíveis que conheço. Por pouco, não constou do rol de “marginais”, que a sociedade e a escola engendravam.
Por: José Pacheco