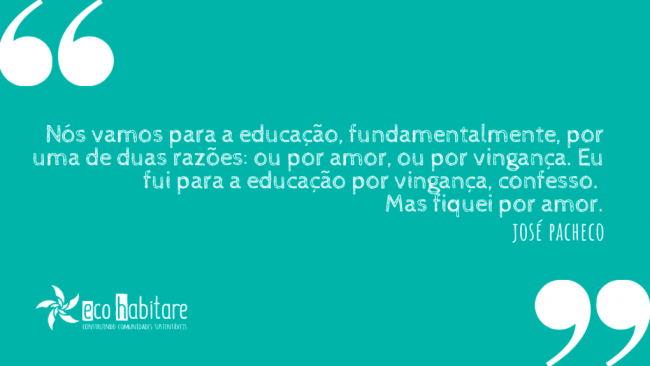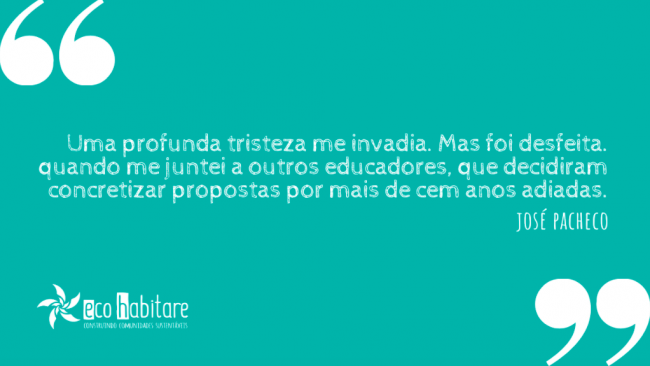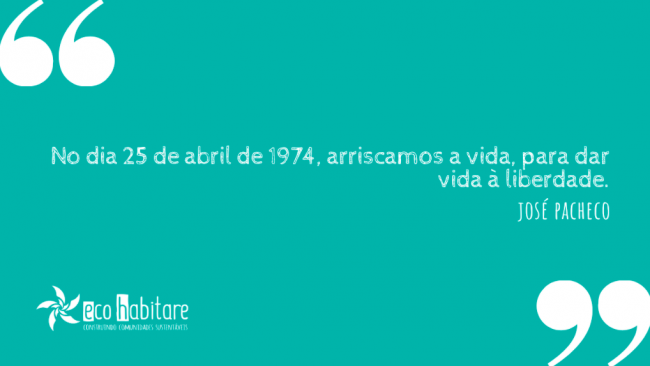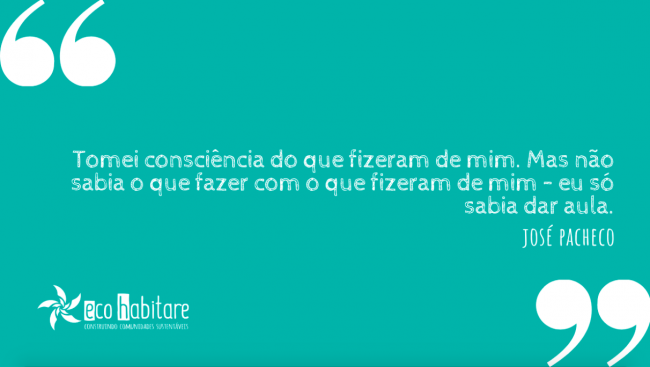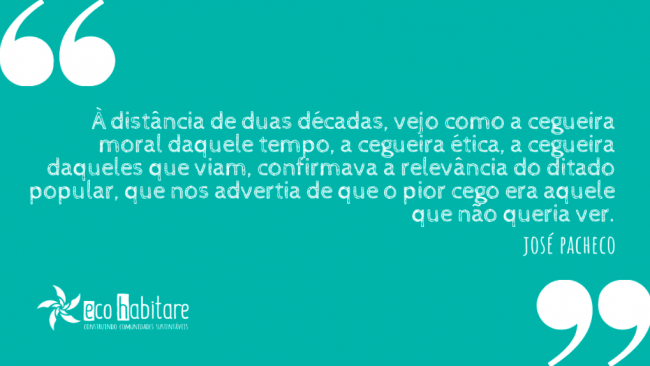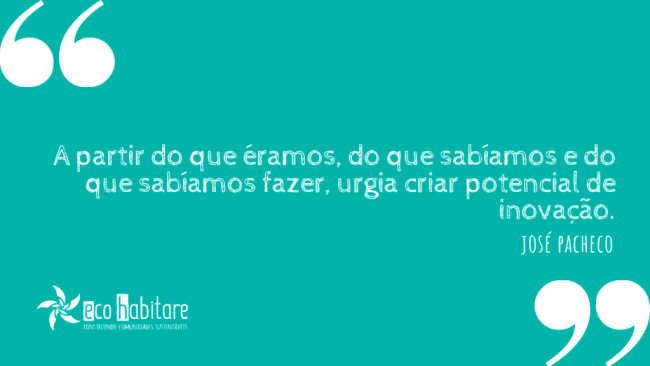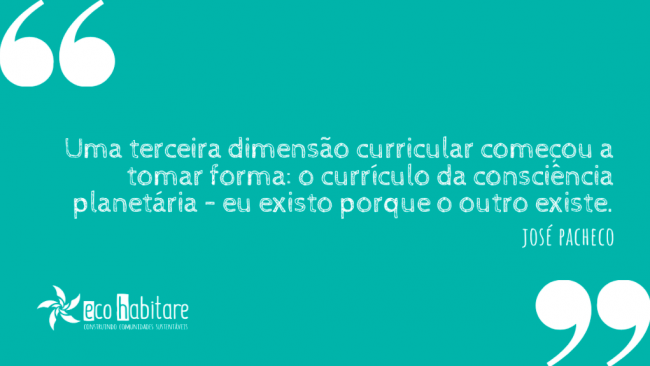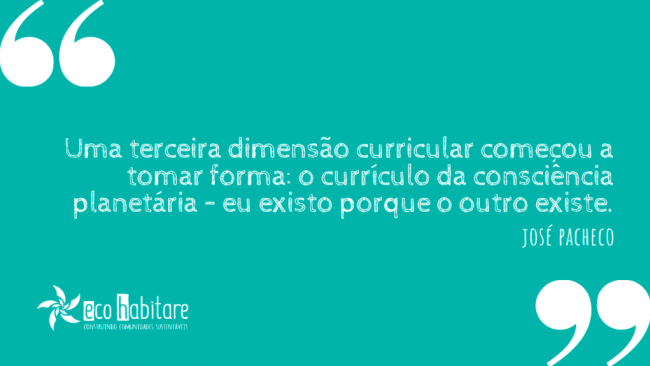Alta Floresta, 28 de abril de 2040
Querida Alice, passei a tarde de ontem relendo cartinhas para ti enviadas, no tempo em que nasceste. Tudo o que te contei nessas cartas se passou enquanto aprendias a balbuciar as primeiras palavras, na inocência de não te dares conta de teres nascido em tempos sombrios.
Chegado o tempo de aprender a ler, não deparaste com relatos de opróbios, mas com esperançosas palavras. Como aquelas que leio na carta, que mãos trémulas de um velho emocionado segura: São lugares de verdade, são seres verdadeiros aqueles de que te venho narrando feitos e peripécias. Bem sabeis que as coisas se vão entrelaçando e tomando forma, fazendo sentido.
Nas cartinhas, este avô desocultava memórias de tempos futuros, em que o arrojo de um Ícaro já não teria a temer o ardor do Sol. Não me referia ao “sexto anjo, que mergulhou a sua taça no grande rio Eufrates, secando-o e preparando o caminho para os reis de Leste”, mas àquele que, na Bíblia, avisava o mundo de um eminente “Juízo Final”. De personificação em personificação, te falava da preocupação da gaivota, que meditava sobre o destino das aves que seguem o curso do Tigre e do Eufrates, rumo às longes terras do Norte, para aí nidificar. Sabia que o instinto já havia afastado as cegonhas e os pelicanos de África e que, por força da cupidez de alguns homens, as migratórias aves se arriscavam a perecer a meio caminho de uma longa viagem.
Pois bastou um ou dois meses de isolamento social, para que peixes voltassem à Baía da Guanabara… benigno efeito colateral da pandemia. Contudo, era evidente que a humanidade não aprendia a lição. Provável seria que, após a peste, de novo, os peixes migrassem para a nascente e só restassem nas águas da baía lixo acrescentado de restos de máscaras protetoras do COVID-19.
No tempo em que já eras uma jovem psicóloga e cuidavas das mazelas infligidas a seres de tenra idade, eu penetrava no santuário amazônico, passando Boca do Acre, ou cruzando os limites com Mato Grosso e Rondônia, ao encontro de alguém que era intransigente na defesa da Vida. A minha amiga Fernanda tecera um projeto numa comunidade indígena. Esse maravilhoso ser humano sofria por ver a Amazônia devassada e abandonada à sua sorte.
Os indígenas eram guardiães da Mãe-Terra. Foram, por séculos, dizimados pela varíola e pelo COVID-19, que missionários e turistas trouxeram da Europa e da Ásia. E, no tempo da pandemia, nova ameaça despontava – terras indígenas pendentes de homologação poderiam ser vendidas, loteadas, desmembradas, invadidas. Na era da pós-verdade, a ambição dos agentes de uma economia necrófila, impunemente, intimidava e matava. Vivíamos um tempo de ignomínia dissimulada. Havia quem tentasse ocultar a dimensão da tragédia. Permite que relembre um episódio exemplar.
A prefeitura de Manaus mandara abrir uma cova coletiva num cemitério. A vala comum era necessária, para dar conta do grande número de sepultamentos causados pelo COVID-19. Imagens chocantes de dezenas de caixões alinhados numa vala coletiva foram veiculadas pela Internet e pela TV. Em tempo de pós-verdade, assistíamos à pérfida manipulação da opinião pública. Uma reação negacionista cresceu nas redes sociais, afirmando que o colapso funerário da capital do Amazonas era… fake. E houve quem acreditasse nessa versão dos fatos.
Num e-mail recebido nessa semana, um professor manifestava surpresa e mágoa perante tal absurdo. O meu e-mail de resposta encerrava com duas perguntas:
Quem terá produzido esses bonsais humanos? Qual será a sua, a nossa quota parte de responsabilidade?
Por: José Pacheco