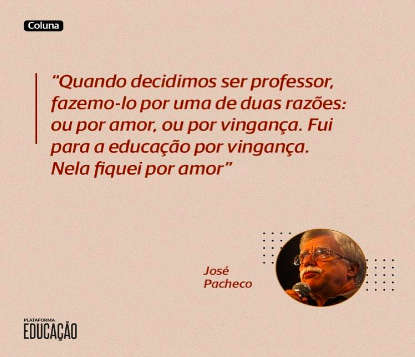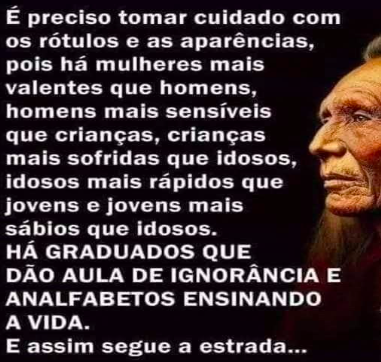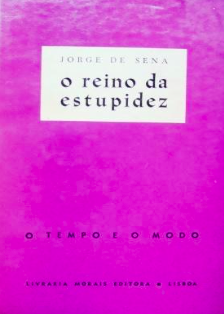Santarém, 14 de julho de 2042
No julho de há vinte anos, Portugal continuava a arder. Um incêndio num campo agrícola me chamou a atenção. Quando chegaram ao local, os bombeiros não encontraram um incêndio “normal”, mas “uma pequena coluna de fumo num campo de milho e um corpo já carbonizado”. Era de “uma mulher com cerca de 50 anos”. Junto ao corpo encontrava-se um pequeno altar em madeira, algumas figuras de santos e velas.
Estranho, não é? No julho de há vinte anos, tudo era estranho: a repetição da tragédia dos incênciaos florestais, o silêncio nos lares, a violência nas ruas, uma guerra na Europa dita vivilizada.
Nesse mês, voltei a Santarém, num trânsito escalabitano de reencontro com a incansável Mariana da Comunidade de Aprendizagem Lezíria. Esta maravilhosa equipa viria a criar e a recriar projetos e, num deles, a ajudar uma excepcional Presidente de Junta a fazer regressar à Escola Alexandre Herculano a infância que dessa comunidade nunca deveria ter saído.
Imaginar modos de construir futuros mais promissores consiste em revisitar o passado. Voltemos, pois, a um passado em que eram organizados congressos, para debater a crise climática e a crise educacional – eram crises indissociáveis – nos mesmos termos de congressos ancestrais. Quem olhasse o cardápio dos congressos dos idos de vinte estaria a ler réplicas de programas de congressos das décadas de 70 ou 80. Apenas se dava nomes novos a velhos temas.
Colhi um exemplo, ao acaso, no prospeto anunciador de uma convenção universitária. Quarenta anos antes desse evento académico, o vosso avô havia apresentado uma comunicação, num encontro em tudo idêntico à referida convenção. Em 1975, numa região rural, ganhei fama de bom professor (fosse lá isso o que fosse…), era muito querido pelas famílias dos meus alunos e com fama de bom professor, sofri perseguição.
Por ser um professor “diferente”, descobri que, se o maior aliado de um professor é outro professor, o maior inimigo de um professor diferente” é outro professor. Uma professora da minha escola lançou um boato. Fez constar que eu havia posto duas crianças nuas, simulando o ato sexual, para explicar como nasciam os bebês. Tal e qual!
Alguns pais de alunos acreditaram que eu tivesse sido capaz desse hediondo ato. Foram ao meu encontro, para me matar. Escapei por um triz. E tudo se esclareceu num dramático encontro. Tomando consciência de que poderiam ter assassinado alguém inocente, os pais dos meus alunos queriam ir à casa da professora boateira, para a agredir. Opus-me a que fossem (apesar de desejar que ela apanhasse uma sova, confesso)
Nos idos de setenta, para que se prevenisse situações de calamidade, eu tinha chamado a atenção para o maior obstáculo à mudança educacional. Afirmara que o maior obstáculo era eu, ou cada um de nós. Se a cultura profissional dos professores não se alterasse, verões incendiários e fantasmas de novas guerras regressariam.
Quatro décadas decorridas, muitas teses publicadas, muitos cursos e congressos realizados, pouco ou mesmo nada se alterara na formação e na cultura pessoal e profissional dos professores.
Na referida convenção universitária dos idos de vinte, um pesquisador apresentou uma comunicação subordinada ao tema “O pior inimigo dos bons professores são seus próprios colegas de classe”. Cito:
“O pior inimigo dos bons professores são seus próprios pares. São eles que colocam obstáculos, que criticam secretamente ou mesmo abertamente as iniciativas que querem empreender”.
Nos idos de vinte, por que haveria quem se surpreendesse com guerras e verões assassinos?
Por: José Pacheco