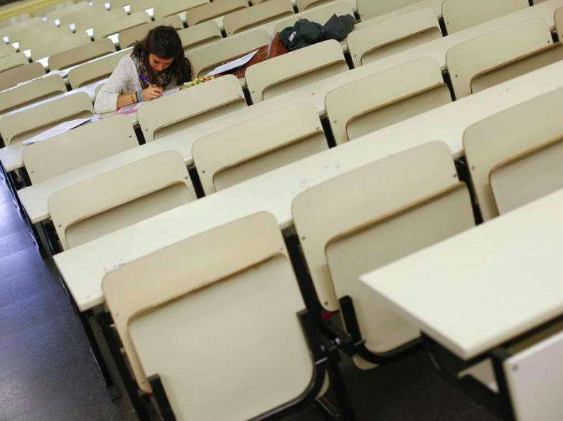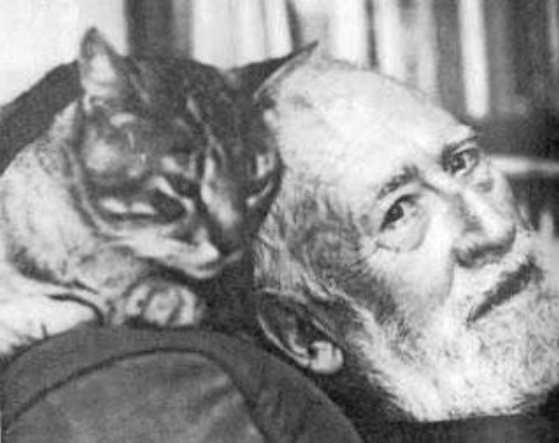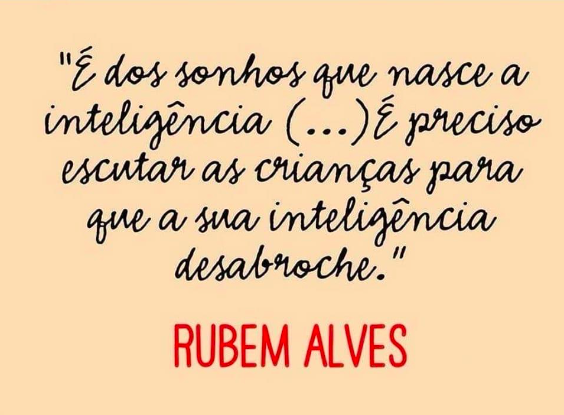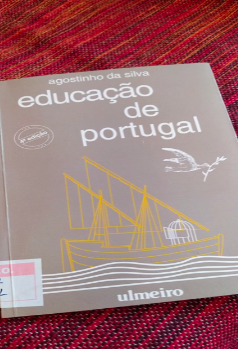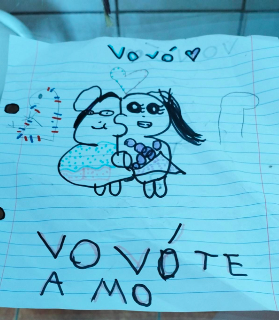São José, 15 de agosto de 2042
Perguntastes o que me levou a trocar a engenharia pela educação. Vezes sem conta escutei essa pergunta e respondi aligeiradamente, de um modo que convosco não usarei.
Uma vida de professor de escola pública me mostrou que fiz a escolha certa, ainda que tivesse de passar por três crises. Da primeira vos falarei nesta cartinha.
O modo como o professor aprende é o modo como o professor ensina. Portanto, a minha vida profissional denotou o que me tinham ensinado: a “dar aula”. E a dava muito bem, segundo os entendidos. Inspetores recomendavam a estagiários que fossem observar as minhas aulas. “Dava aula” magistral e vaidosamente. Planificava-as ao pormenor, lhes juntava bons materiais e “truques motivacionais”. Porém, todos os anos, havia quem não aprendesse.
Nesse tempo, havia exame ano a ano e alguns alunos reprovavam, ficavam “retidos” (eufemismo adotado mais tarde). A lei me dizia que todos os cidadãos tinham direito à educação, mas eu os privava desse direito. Sobreveio a primeira crise, uma crise moral a partir do momento em uma profunda revisão de vida me fez concluir que, se eu trabalhava em sala de aula e eles não aprendiam, eles não aprendiam porque eu trabalhava… em sala de aula.
A primeira das crises desembocou num dilema: ou substituía o trabalho em sala de aula por outro modo de ensinar, ou daria o fora da profissão de professor. Acabei por ficar, por ter recebido ajuda da Montessori, do Dewey, da Irene, do Freinet, da Elise, do Steiner, do Dottrens, da Louise, do Bento, do Decroly e mais um punhado de amigos escolanovistas, entretanto, já falecidos.
Feita a transição entre práticas do paradigma da instrução para práticas fundadas no paradigma da aprendizagem, a crise se dissipou. Entre os Ficheiros Autocorretivos e a Correspondência Escolar, entre o “Método Natural de Leitura” e a Assembleia de Alunos, entre a “Imprensa Freinet” e o “Método das 28 palavras”, a Escola da Ponte surgiu.
A “Aula Passeio” me mostrava que aula sempre iria haver, porque, quando o discípulo estivesse pronto, o mestre apareceria. Mais tarde, chamaríamos a isso “Preciso de Ajuda” e “Posso Ajudar”. Tudo aconteceu como tentativa de cumprir a lei (princípios morais) e, sobretudo, de respeitar a criança, que aluno não é cobaia de laboratório.
Creio que, de algum modo, cheguei a cair em excessos neo-behavioristas, mas que fazer, se eu permanecia sozinho e a voos mais altos não poderia aspirar? O que fiz em setenta e seis foi aquilo que, ainda sozinho, poderia fazer.
Há vinte anos, fui a Portugal. Um decreto criava condições de concretização de projetos inspirados na Ponte. Com surpresa me apercebi que a quase totalidade das escolas ainda tinha salas de aula, turmas e outros dispositivos instrucionistas. Com profundo desgosto, assisti a uma paliativa deturpação da proposta veiculada pelo normativo. As escolas mantinham-se atrasadas mais de um século em relação à proposta escolanovista.
No meu país, fui ao encontro de lugares onde despontavam projetos de mudança, alguns deles com elevado potencial inovador. E decidi enviar e-mail ao ministro da educação. Nele lhe dizia da minha disponibilidade para ajudar a superar um século de inúteis reformas. Acreditava na boa-fé do ministro, quando dizia:
“O que me motiva para estar aqui é o combate às desigualdades através da educação. Não podemos desistir.”
E citava a sua referência maior, Baden Powell:
“Para deixar o mundo um pouco melhor do que encontramos, não há ensino que se compare ao exemplo”.
Propus ao ministro escuteiro que déssemos exemplo de fraterna cooperação.
Por: José Pacheco