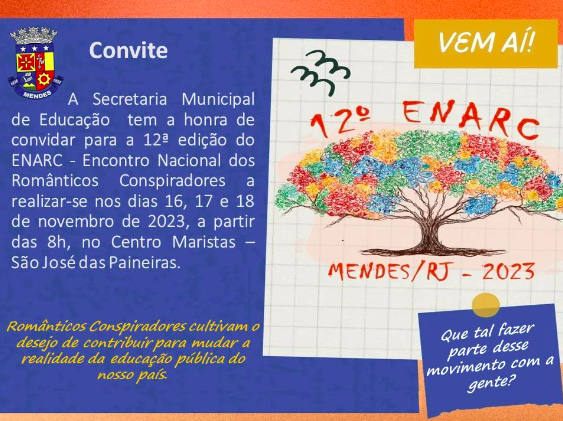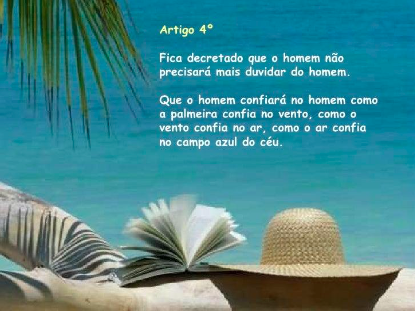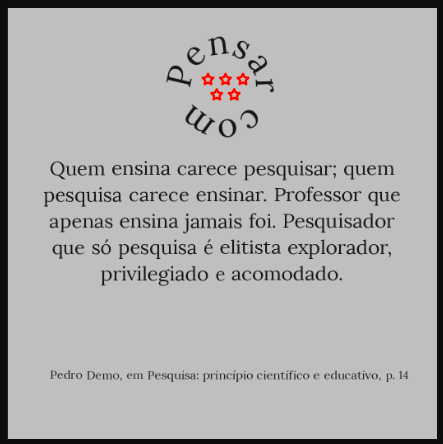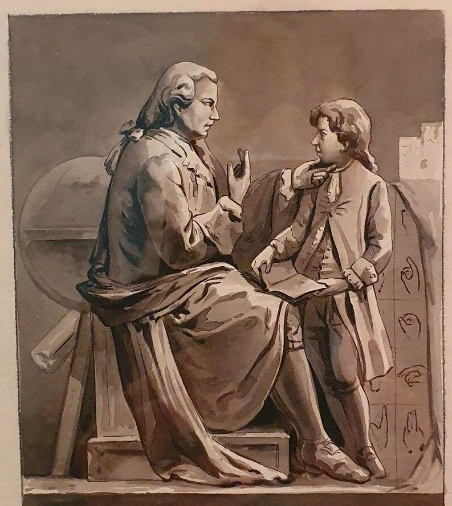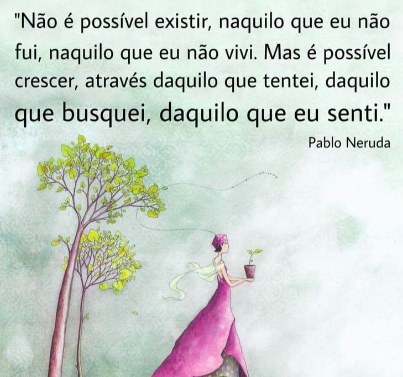Brasília, 19 de novembro de 2043
Netos queridos, em outra cartinha, falei-vos de alguns “impactos” sofridos no início da profissão de professor. Como quando aceitei o convite para trabalhar numa universidade, esperando vir a aprender algo que me permitisse melhorar o trabalho que ia sendo feito na Ponte.
Ledo engano! No primeiro dia de formador, joguei no lixo os papéis encimados pela expressão “registos de presença”. No projeto (escrito) daquela instituição estava escrito que se pretendia “formar professores autônomos e responsáveis”. Como se poderia atingir esse objetivo impondo instrumentos de controle?
Não tardou que enfrentasse animosidade, pois havia alunos, que faltavam às “aulas” de outros professores controladas por registos de presença, para participar nos meus encontros de aprender a ser professor.
Chegaram notícias de destrutiva crítica, provindas de professáurios, que diziam ser o meu trabalho “uma porcaria” e que ameaçavam os alunos de “reprovar por faltas”. Pedi aos alunos que convidassem esses críticos para um debate franco, através do qual provassem que “dar aula” era o certo e que o meu modo de fazer aprender estava errado. Nunca aceitaram o convite.
Não conseguia conter a minha perplexidade. Os meus colegas diziam ser montessorianos, freinetianos, escolanovistas… Mas, mais tese, menos tese, mantinham-se tão instrucionistas quanto os meus antigos mestres.
Quando propus desenvolver uma avaliação formativa, contínua e sistemática, com recurso a portfólio, fui surpreendido por um fenômeno, que considerava erradicado. Os meus alunos entregavam-me “trabalhos de pesquisa” enfeitados com citações do tipo: “segundo fulano, conforme Piaget, Vygotsky disse, beltrano disse”.
Eu devolvia os textos, dizendo que aqueles “trabalhos acadêmicos” não eram pesquisas, eram cópias. E que eu não era fofoqueiro, não me interessava saber aquilo que alguém disse, mas verificar a aquisição de saberes, a produção de conhecimento.
Chegada a era da Internet, reinterpretei o fenômeno. Deparei com o copy past digital, que não dotava os professores de um saber-fazer fecundante de práxis coerentes, nem os habilitava a argumentar num espaço de debate transformado em terra de ninguém.
A breve passagem por essa instituição de formação foi tempo suficiente para que eu compreendesse por que razão os professores só sabiam replicar aulas. Amiúde, os professores da formação inicial citavam Schön e o amigo Nóvoa, dizendo serem os professores profissionais intelectuais, reflexivos e críticos das suas práticas. Mas, cadê esses profissionais?
Quando recusei “dar aula” naquela faculdade, chegaram a insinuar “prescindir” da minha presença na instituição. Não “prescindiram”. E, quando, ao cabo de meia dúzia de anos, tomei a decisão de ir embora, muitos colegas me pediram que ficasse.
Quiseram saber o porquê da minha irredutível decisão.
“Vou embora, porque é intenso o “fogo amigo”. E eu não tenho vocação para o martírio”.
Nos anos seguintes, foram muitas as modas pedagógicas adotadas pelos formadores. Houve um tempo em que as vedetas eram as “taxonomias”. Depois, a “pedagogia dos projetos”. Na transição de século, o “empreendedorismo”, a “cultura maker”, o “ensino híbrido”. Mais tarde, a “educação integral” e as “neurociências”. Nos idos de vinte deste século, as escolas continuavam a enfeitar-se de “novidades” em tudo semelhantes aos paliativos cultuados no século XX.
A contragosto vos narro estes fatos. Nas próximas cartinhas, vos falarei de reinvenção, da humanização do ato de educar.
Por: José Pacheco