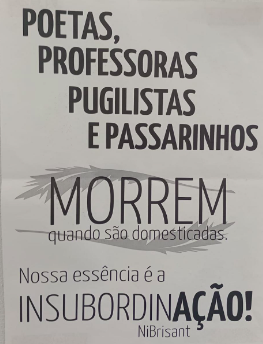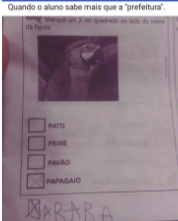Niterói, 4 de julho de 2043
“Adaptar as escolas não seria suficiente; era preciso transformá-las.” Com esta sentença encerrei a cartinha de ontem. Hoje, pretendo retomar parte do conteúdo do manifesto dos jesuítas da Catalunha. Eles sabiam que de nada valeria tentar remendar um sistema de ensino obsoleto. Urgia substituí-lo, gradual e prudentemente, por novas construções sociais, por um sistema de… aprendizagem.
Despontava uma nova visão de mundo, a busca da cura das chagas de uma sociedade doente. Consumava-se a humanização numa nova educação. Dispositivos primordiais foram instituídos. Os seus autores deram-lhes o nome de “círculos de aprendizagem”. Deles vos farei uma descrição fundamentada. Agora, vos deixarei com os extraordinários educadores jesuítas da Catalunha:
“A Fundação iniciou em 2009 um processo participativo chamado Horizonte 2020 (em catalão, Horitzó 2020) com o objetivo de propor debates sobre como deveria ser a escola ideal para enfrentar os desafios do século 21. Mais de 13 mil pessoas relacionadas direta ou indiretamente à rede de escolas jesuítas foram convidadas a participar, entre elas alunos, pais, professores, diretores, gestores, empresários, funcionários de instituições, políticos e membros da Igreja. Nas atividades propostas, o grupo foi incitado a refletir sobre três questões fundamentais:
Que escola queremos?
Que futuro desejamos?
Como deve ser a escola em 2020?
Em um primeiro momento, os participantes foram orientados a pensar exclusivamente no futuro que desejavam, deixando de lado o “como” fazê-lo. A ênfase estava em explorar o sonho e a imaginação de cada um dos envolvidos para que pudessem surgir ideias sem limitações. De acordo com a Fundação, o objetivo era que, ao final desse processo, fosse construído coletivamente um Ratio Studiorum do século 21.”
Por essa altura, as escolas ditas públicas desconheciam por completo a existência de uma proposta de Ratio Studiorum do século 21, bem como a do século 16. As escolas ditas alternativas pecavam por não atualizar as propostas de Steiner, de Dewey, de Montessori, de Freinet.
O Modelo Pedagógico jesuítico estava baseado em “onze pilares: equipe docente integrada, criativa e inovadora; alunos protagonistas; espaços flexíveis e dinâmicos; participação das famílias; recursos digitais; tempo flexível; avaliação dinâmica; metodologia diversa; estimulação precoce das inteligências; contato com o inglês e integração de valores.
De todos os pontos, o de maior destaque foi a necessidade de substituir os espaços antigos por outros, mais acolhedores e motivadores, com a intenção de desenvolver projetos globais e diversos para a estimulação das inteligências múltiplas.
O uso do tempo foi igualmente reformulado. Sem horários fixos, os alunos passaram a desenvolver atividades debatidas no início da manhã, com avaliação ao final da jornada. O recreio tampouco ficou com um horário estabelecido: os estudantes passaram a decidir quando sair, de acordo com o momento em que consideravam necessário. Os deveres de casa também não existem. Os alunos passaram a ser estimulados a pesquisar temas relacionados aos projetos.”
E o amigo Pepe comentava:
“Como a intenção não é vincular a aprendizagem à realização de provas, eles estão mais atentos ao que fazem e têm a capacidade de explicar como e por que realizam determinadas atividades.”
Na Catalunha da primeira década deste século, eram desenvolvidas práticas do século 21. No Brasil e no Portugal da terceira década, as escolas desenvolviam práticas do século 16.
Por: José Pacheco