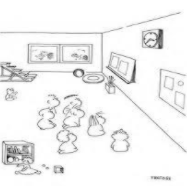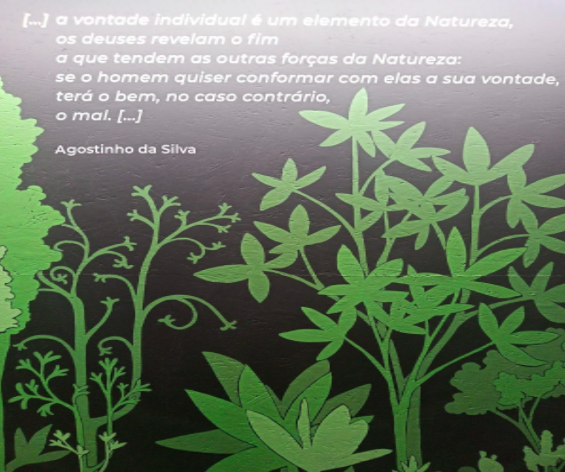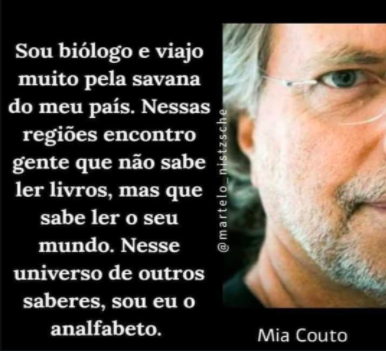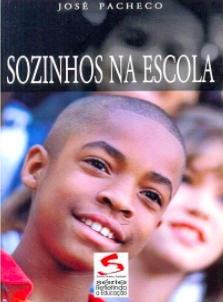Sobral de Monte Agraço, 30 de novembro de 2041
Informaram o cirurgião de que, naquela manhã, faria três operações. O médico analisou os relatórios clínicos, preparou procedimentos. Concluiu que, após as intervenções cirúrgicas, dois dos pacientes ficariam curados e o terceiro iria falecer na mesa de operações.
Um engenheiro dispôs-se a concluir três projetos e assim procedeu: a primeira das casas projetadas seria sólida, perfeita; a segunda das casas, em escassos meses, apresentaria defeitos de construção; e a terceira casa desabaria após a conclusão da obra.
Queridos netos, é evidente que considerareis absurdo aquilo que acabastes de ler. Nos idos de vinte e ressalvadas as raras exceções, médicos e engenheiros agiam com competência, profissionalismo, eticamente. Mas existia um profissional que assim não procedia.
Um modelo de escola concebido há duzentos anos, que servira eficazmente as necessidades sociais do século XIX e as intenções da primeira revolução industrial, continuava produzindo exclusão, naturalizando o insucesso de milhões de jovens. Admitia haver alunos que “não acompanhavam o ritmo da turma e da aula” (uma cretina expressão, comumente escutada). Havia professores que aceitavam que uma parcela significativa dos seus alunos, “naturalmente”, não aprendesse. Após a primeira das pandemias, o ministério supunha que esses alunos precisariam de “aulas de apoio”, de “projetos de recuperação das aprendizagens”.
Profeticamente nos dizia o amigo Nóvoa que essa escola iria desaparecer. E que não era algo a acontecer num futuro distante:
“Debaixo dos nossos olhos e perante uma certa indiferença da nossa parte, estão acontecendo três revoluções. A primeira é a revolução digital, que está mudando a nossa maneira de sentir, o nosso modo de viver e nossa maneira de aprender. Na segunda revolução passaremos da solidão da sala de aula para a construção coletiva de um projeto educativo. A terceira consiste em pensar a educação para além da escola, de compreender todas as dimensões educativas que existem na cidade, na sociedade”.
O amigo Nóvoa tinha toda a razão, quando dizia: em breve, teremos uma instituição que vai além da dimensão física”. A escola entendida como prédio composto de salas de aula estava com os dias contados.
Os projetos humanos contemporâneos careciam de um novo sistema ético e de uma matriz axiológica clara, baseada no saber cuidar e conviver. Requeriam que abandonássemos estereótipos e preconceitos, exigiam que se transformasse uma escola obsoleta numa escola que a todos e a cada qual desse oportunidades de ser e de aprender.
Nos idos de vinte, nascia na América do Sul uma Nova Educação, aquela que muitos visionários anunciaram, desde há quase dois séculos. Quem ignorava que a história da educação brasileira era pródiga em exemplos de projetos inovadores? No Brasil, acompanhei uma revolução silenciosa, herdeira de freirianos percussores, uma revolução que já não poderia ser silenciada.
Convertido ao sul, buscava fazer a minha parte, ajudando a descabralizar a educação. E, numa viagem ao Norte, expus essa intenção a europeus e norte-americanos, bem como a minha convicção de que o Brasil era mesmo o país do “futuro da educação”.
Etnocêntricamente convencidos de que era no hemisfério norte que morava a novidade, os gringos desdenharam (tiraram sarro, para ser mais preciso). Na verdade, algum neocolonialismo pedagógico ainda invadia o sul. Com salas de aulas “híbridas” se tentava adiar a transição. A profecia do amigo Nóvoa se concretizaria, já na década de trinta.
Por: José Pacheco