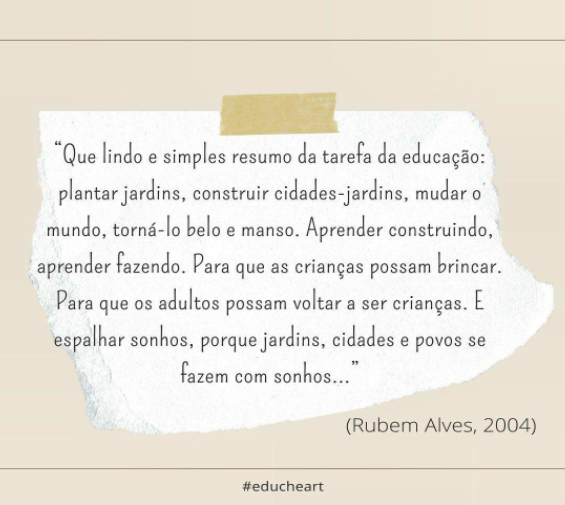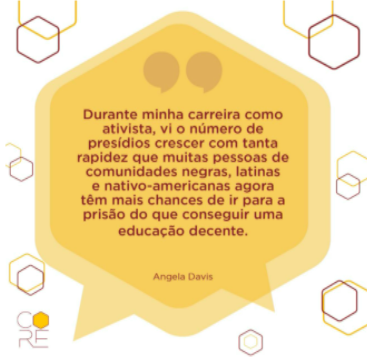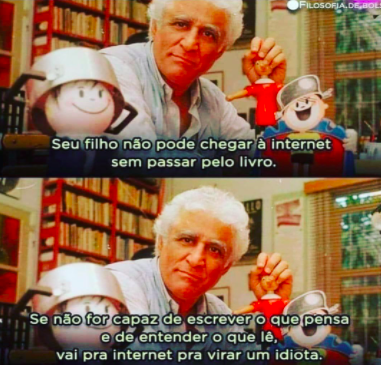Pessegueiro, 28 de fevereiro de 2042
Ser velho também tem as suas vantagens. Dispomos de todo o tempo do mundo, para arrumar e desarrumar memórias. Hoje, acordei cheio de vontade de arrumar umas pilhas de cadernos – decerto, ainda vos lembrais desses velhos apetrechos pré-digitais – e deparei com um excelente texto do amigo Mauro. Tem data de fevereiro de 2022 e descreve impressões da visita à escola da extraordinária diretora Fabi.
O título da crônica era sugestivo: Educação Inovadora em Mogi Guaçu: A Aventurosa Saga da Aprendizagem Significativa e as Falas de seus Heroicos Personagens.
“Andando pelo pátio de uma escola estadual de ensino médio, tenho a surpresa de observar que as portas dos banheiros feminino e masculino são identificados pelas marcas da Mulher Maravilha e do Super Homem. As imagens expressam anseios de adolescentes e jovens de tornarem-se mulheres e homens plenos, potentes e decisivos nas situações que enfrentarão.
(…) A primeira etapa é conversar com os estudantes que participam da tutoria, e para isso faz-se uma roda de conversa. A diretora nos apresenta e explica que a adesão dos professores e estudantes à proposta de tutoria é opcional, e antes de deixar a sala coloca à vontade quem quiser participar para contar o que pensa a respeito.
São quinze desses tutorandos que se dispõem a participar da roda, conduzida em parceria com Helô Bueno, professora e voluntária na Luiz Martini e em outras escolas da região. Fazemos nossas apresentações. Somos ativistas da educação pública e da educação inovadora, e gostaríamos de saber as opiniões deles sobre a tutoria.
Mal começo a anotar o que dizem, observo a horizontalidade na comunicação. Os estudantes podem simplesmente se ausentar, mas se dispõem a compartilhar generosamente suas impressões. Expressam-se com clareza e combinam entre eles de quem é a vez. Interrupções, quando há, são causadas pela oportunidade e o entusiasmo e não pela vontade de aparecer ou prevalecer; e findam pela devolução da palavra ao interrompido.
Em sintonia com essas atitudes, grande parte dos relatos dos estudantes passa a mencionar a qualidade das relações estabelecidas com os tutores, a atenção dada à situação de cada um. Passo a anotar as falas dos estudantes:
Na tutoria a gente se expressa melhor do que na sala de aula.
O tutor acompanha cada um conforme sua evolução, enquanto na sala de aula o professor tem que dar atenção a todos ao mesmo tempo.
O ensino “normal” atrapalha muito o interesse, já na tutoria se cria um vínculo pessoal com o tutor.
As diferenças nas relações com o conhecimento aparecem de forma contundente.
A gente não gostava da escola rígida anterior e depois da tutoria passamos a ter interesse em estudar.
Inicialmente estava conectada a uma determinada perspectiva profissional, e meus projetos avançaram bastante; mas agora me sinto mais feliz e evoluindo ainda mais no aprendizado em outra área.
Estou muito feliz com o que aprendi sobre derme e epiderme! Tem aplicações na estética, e envolve química, biologia, física das cores…
Encontrei uma questão que envolvia matemática e fui pedir ajuda a um outro professor que não é tutor… Ele ficou surpreso com o que estou aprendendo…
A tutoria permite perceber nossa evolução! Uma simples prova feita num dia não pode servir para avaliar um semestre inteiro de estudo, pois no dia da prova o aluno pode não estar bem…
Na próxima cartinha, voltarei a usar palavras do amigo Mauro, dando conta da emoção sentida na sua visita à melhor escola de Mogi Guaçu. E compreendereis por que o Mauro falava de “heroicos personagens”.
Por: José Pacheco