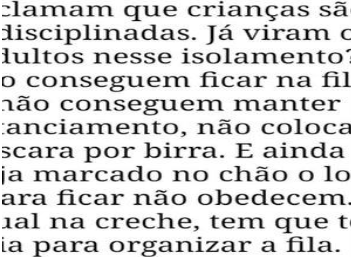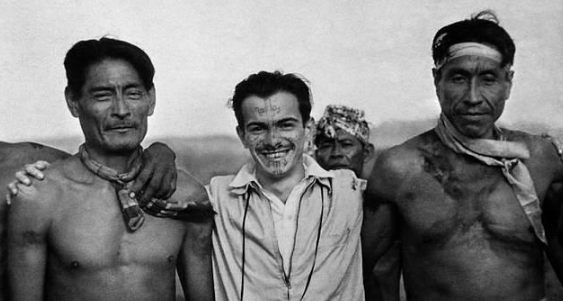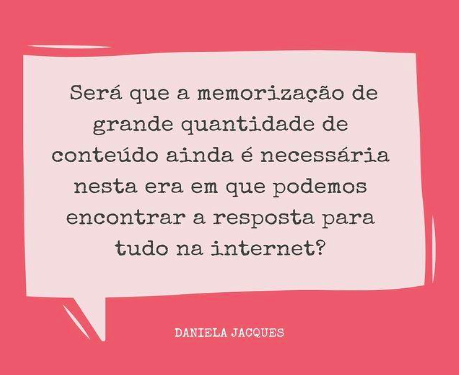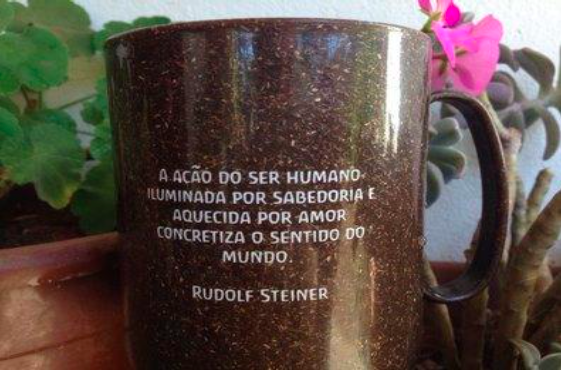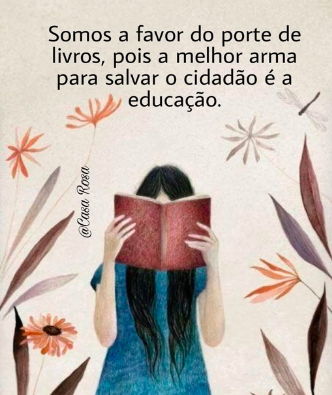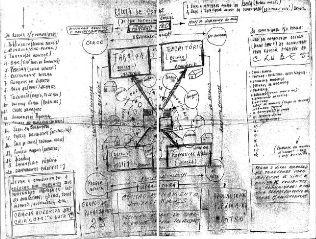São Romão, 2 de agosto de 2042
Viajando por terras com nomes de santos, lhes peço a inspiração necessária para vos passar uma “mensagem”, mais ou menos teórica, sem vos maçar.
Evito usar o jargão das ciências da educação sem menosprezar a vossa capacidade de compreensão, porque, se o não fizer, poderá acontecer algo parecido com o que sucedeu no final de um congresso.
Eu fizera a “abertura” e um eminente pedagogo português faria a última palestra do dia. No final do evento, fugindo à “tietagem”, quis saber a opinião dos professores sobre a palestra de encerramento,
“Então, gostaram da palestra do Doutor A…?”
“Sim, gostamos.”
“E do que mais gostaram?”
“Não sabemos dizer, porque pouca coisa entendemos do que ele disse. O Doutor é português e fala de um modo estranho”.
Não se tratava de falta de discernimento dos interpelados. No início do meu voluntário exílio no Brasil, provavelmente, também terei passado pelo mesmo. Só quando apurei o uso de certas palavras, me terei feito entender. Recordo-me da reação do público, quando afirmava “pagar propina”. Propina é o que um estudante paga à universidade, para poder frequentar um curso, mas tem outro significado no Brasil…
No primeiro julho vivido na América do Sul, passei por uma situação embaraçosa, prova de que não era a falar que a gente se entendia, Era a falar que a gente se desentendia.
Saíra de Lisboa no pino do Verão, temperatura a rondar os 40 graus. Cheguei ao interior do Estado de São Paulo num dos julhos mais frios de que há memória.
Eu viajara apenas com uma camisa leve e fresca. Dirigi-me a uma loja e pedi uma camisola.
“Para quem é a camisola” – perguntou a moça do balcão.
“É para mim” – respondi. E não entendi a reação de espanto da moça. Em Portugal, “camisola” é peça de roupa masculina que cobre o tronco e os braços e é usada como agasalho. No Brasil, é uma camisa de dormir… feminina.
Mas, voltemos à teoria na prática e à prática com teoria. Por décadas, os princípios de ação por nós perfilhados eram oriundos de uma matriz axiológica composta por três palavras: Responsabilidade, Solidariedade, Autonomia. Por ela nos guiámos. Eram bem claros os seus significados, tanto em Portugal como no Brasil.
Autonomia não era um conceito isolado, se definia na relação, e o conceito de singularidade lhe era próximo. O reconhecimento da singularidade consistia na aceitação das diferenças interindividuais, enquanto a autonomia era o primeiro elemento de compreensão do significado de “sujeito” como complexo individual.
Anos mais tarde, voltaria a reaprender o conceito, quando abordava com a Luiza Cortezão o conceito de “autonomia relativa” do Fritzell e do Giroux ~ Já percebestes que vos deixo “com a pulga atrás da orelha”, que o mesmo é dizer que vos convido, por exemplo, para a leitura de um clássico: “Teoria Crítica e Resistência em Educação”.
Entre o contexto familiar e a escola, com os pais e os professores, a criança encontrava os limites de um controle que lhe permitia progredir numa autonomia, que era liberdade de experiência e de expressão. A autonomia convivia com a solidariedade. Ilustrarei com um episódio breve, que a cartinha já vai longa.
Acolhemos na Ponte um jovem jogado fora de outra escola. Na sua primeira ida ao banheiro, o jovem urinou no cesto dos papéis. Na reunião da Assembleia de Escola, um aluno pediu a palavra e disse:
“Eu faço parte da Responsabilidade do Recreio Bom e também cuido dos banheiros. Quero dizer-vos que, nesta semana, um de nós urinou no cesto dos papéis. E quero pedir a ajuda de todos, para ajudarmos um de nós a não voltar a fazer isso”.
Um de nós! Fácil de entender.
Por: José Pacheco