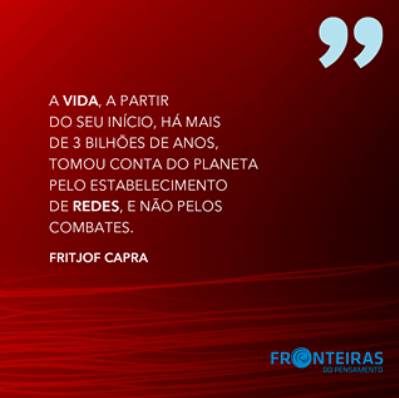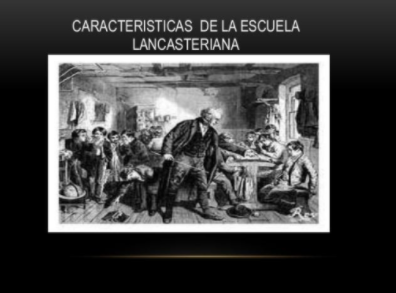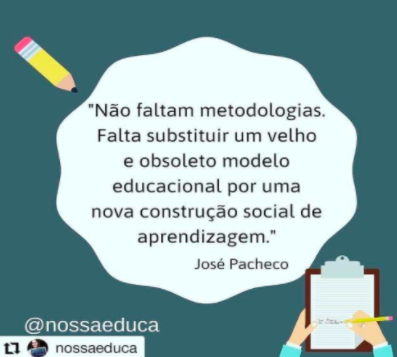Ribeirão da Ilha, 19 de março de 2041
Como qualquer pai que se preze, o meu amigo Edilson se mostrava preocupado com o futuro escolar do seu filho:
“Quero que o meu Nuno vá para esta escola, porque é uma boa escola”.
E mostrou-me uma revista, que ostentava na capa um sugestivo título: “Conheça as melhores escolas para o seu filho”. A mídia usava e abusava dessa ambígua expressão. Mas, a opinião pública saberia distinguir o que fosse uma “boa escola”? As maravilhas anunciadas iriam gerar filas de espera para matrícula. A publicitada “boa escola” iria ter salas abarrotadas de alunos.
Nos idos de vinte, a “má escola” era a dita “escola pública” demonizada, maltratada, que sobrevivia nas margens da obsolescência. E os indefetíveis partidários do regresso ao passado elegiam como vilã a escola das ditas “novas pedagogias”.
“Novas” não eram. Os seus avatares eram fósseis! Piaget nascera no século XIX. Vigotsky morrera há quase cem anos. Montessori criara a sua escola em 1907. Dewey escrevera o seu livro essencial em 1905.
Numa simples expressão se sintetiza aquilo que o leigo considerava “boa escola”: era aquela que, desde a creche, preparava o aluno para passar no vestibular, aquela que ocupava os primeiros lugares de absurdos rankings.
O que nos diziam os rankings? Assinalavam escolas cujos alunos mais conteúdos aprendiam? Mas aprendiam, ou era apenas decoreba vomitada em prova e esquecida?
A memória é esperta e apaga aquilo que não tem significado. As designadas “boas escolas” apenas adotaram algumas habilidades pedagógicas, que os potenciais clientes adoravam. As lousas digitais não eram mais do que quadros negros do século XXI. Aquilo que distinguia uma “boa” de uma “má” escola não era dispor, ou não dispor, de salas de aula 3d, ou tablets para todos. Esses enfeites pedagógicos apenas davam um ar de modernidade a práticas fósseis.
“Eu quero que o meu filho aprenda, mas também que seja feliz e que seja um bom cidadão”.
Compreendi a preocupação do Edilson, mas questionei-o, quando argumentou que a escola escolhida “ocupava os primeiros lugares dos rankings”. O Edilson partilhava da vontade de qualquer pai, mas a dita “boa escola” cuidaria da formação sócio-moral dos alunos?
Qual a moral que a autorizava a condicionar a matrícula apenas a “bons alunos”, ou a recusar a matrícula de crianças “especiais”? Os rankings atestavam honestidade? Como se explicaria que, entre as élites que as frequentaram, se contassem muitos corruptos de colarinho branco? Quantos conformistas eram produzidos nas “boas escolas”, indo ocupar as cadeiras do poder, incapazes de uma postura humanista e inovadora?
Qual a moral prevalecente nas “boas escolas”? Aquela que legitimava a aplicação de vestibulinhos? Aquela que, entre vestibulinhoe e o vestibulares, impunemente, produziam exclusão? Seriam essas as “boas escolas”? Afinal, o que seria uma “bos escola”? Não seria aquela que a todos acolhesse e a cada qual desse condições de ser sábio e feliz, independentemente de ter patrocínio público ou privado? Seria preciso enjeitar maniqueísmos fúteis, questionar o mito da “boa escola” e pugnar para que todas as escolas a todos garantissem o direito à educação.
O mito da existência de “boas escolas” legitimava a existência das “más”. Quer os zelosos e abastados progenitores dos alunos das “boas”, quer os indiferentes pobres pais dos alunos das “más”, as patrocinavam. Uns com mensalidades faraónicas, outros com a bolsa famíla, ajudavam a manter a “boa escola” das suas representações. E a tragédia educacional parecia não ter mais fim. Até que…
Por: José Pacheco