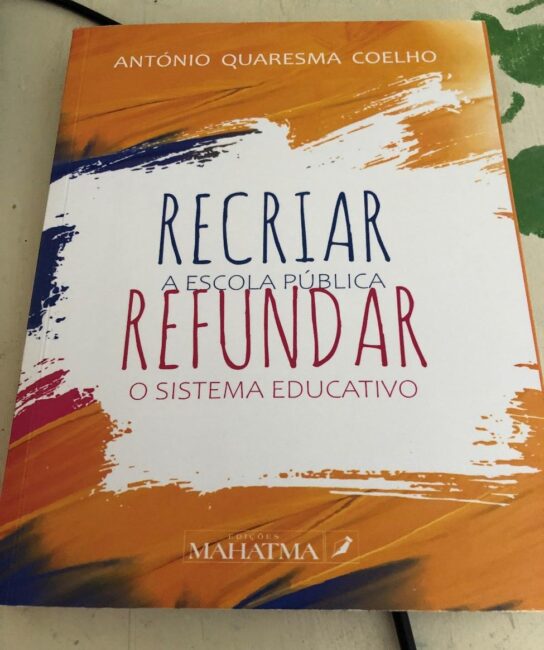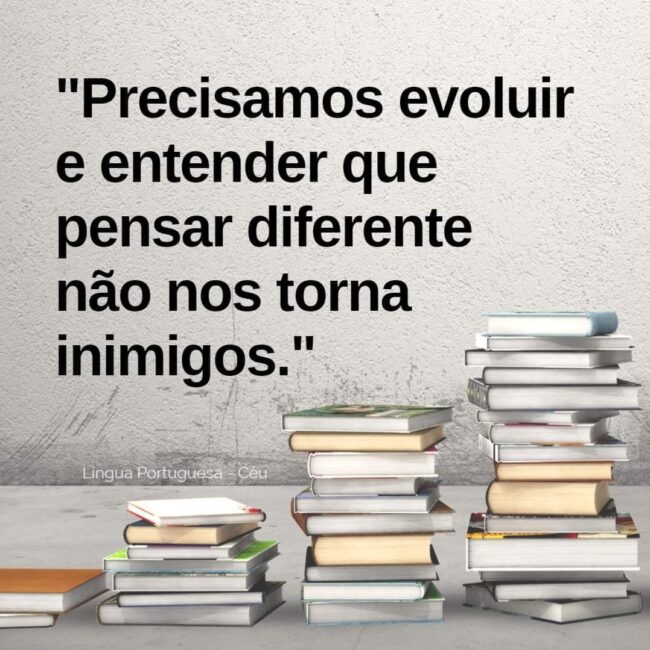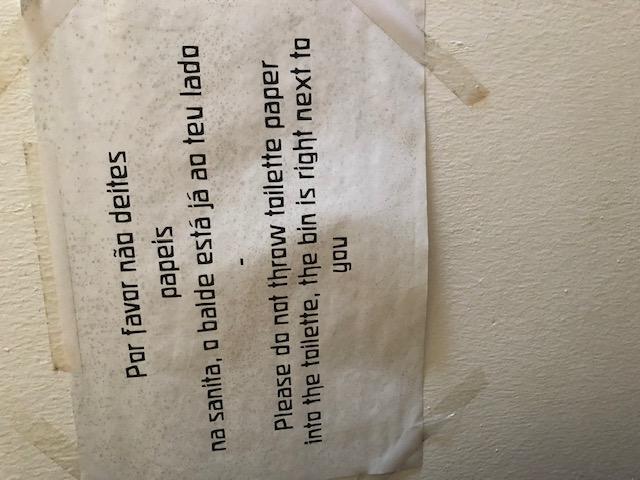São Gonçalo de Rio Abaixo, 22 de novembro de 2042
Preferiria não vos contar a estória que, hoje, vos contarei. Pouco edificante, muito desagradável poderá parecer. Retirei-a de uma pen drive, que encontrei no fundo do baú das velharias. Ainda funciona e me trouxe à memória algo que preferiria ter esquecido. Sucessivas gerações de jovens foram vítimas da ignorância de governantes e da cupidez de empresas. À distância de décadas, tudo nos parece tão sórdido, que até chegamos a pensar que tudo isso não passou de um sonho mau.
Durante uma “palestra” realizada numa instituição de formação de professores, os alunos me disseram serem obrigados a assinar listas de presenças em sala de aula. Perguntei se, ali, ainda havia sala de aula. Disseram que havia.
Eu tinha lido a “proposta pedagógica” daquela instituição e nela estava escrito que formavam professores autónomos e responsáveis, para além de outros atributos, que não casavam com a obrigação de assinar listas de presenças.
Um professor tomou a palavra, visivelmente irritado, e a mim se dirigiu nos seguintes termos:
“O senhor não sabe o que diz! Onde já se viu? Por que não há-de haver sala de aula?”
Respirei fundo. Senti os olhares dos alunos cravados em mim. Hesitei em dar resposta, por não querer criticar um colega de ofício. Mas ele insistiu na provocação:
“Aqui, ensina-se! Ouviu? Diga lá por que não havemos de ter sala de aula!”
“Lhe direi. Mas, antes, lhe peço que me diga por que deverá haver.”
“Eu acho…”
Interrompi-o, para dizer que o “achismo” não era para ali chamado.
“Colega, seja qual for a resposta, faça o favor de a fundamentar cientificamente. Obrigado.”
Reagiu, gritando:
“Eu não sou seu colega! Doutorei-me com uma tese sobre Vygotsky, fique sabendo! Eu sou doutor! E já vi que você só fez mestrado.”
Fiz-me desentendido, tal o tamanho do despropósito, e insisti com o “colega”:
“O colega terá lido o mesmo Vygotsky que eu li? O Lev? Leu-o e continua a ensinar em sala de aula?”
“Claro!” – vociferou.
“Então, só poderei concluir que talvez o colega seja analfabeto funcional. Leu e não entendeu”.
Não vos direi qual o desfecho daquele encontro. Não me orgulho do que disse, mas a paciência tem limites. Vim a saber, mais tarde que o “doutor” (se a memória não me falha) fizera um curso de administração e que se “doutorara” (em Educação!) num país vizinho.
Começava a entender por que a Educação deste país se encontrava em estado lastimável. Quando falava de inovação, os “doutores” diziam tudo ser teoria, e afirmavam que a lei “proibia que se fizesse experiências”.
Mostrei-lhes a Lei que, no seu artigo 81º, referia a criação de uma rede de escolas inovadoras, com caráter experimental, numa intervenção efetiva e continuada para confrontar e superar os problemas reais da sociedade, por meio de indivíduos autônomos, que procuravam compreender o significado profundo de valores perfilhados e partilhados.
Havia no Brasil uma tradição de movimentos inovadores. Na primeira década do nosso século, Eurípides foi pioneiro. Nise foi inovadora na década de vinte. Na década de trinta, Lourenço Filho defendia que “a escola deveria preparar para a vida real pela própria vida”. Nos anos quarenta, Agostinho ousou inovar. Os anos cinquenta assistiram ao nascimento dos colégios vocacionais da Maria Nilde.
Na década de sessenta, tempos sombrios apagaram vestígios de inovação. E nem uma Lei de Diretrizes e Bases logrou ser instrumento de mudança. As escolas se enfeitaram de inúteis projetos. E, quando pensávamos que novas oportunidades se abriam, deparamos com um novo obstáculo: o “Efeito Sobral”.